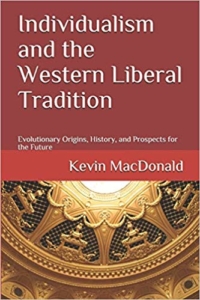Alain de Benoist: “Lutamos por uma revolução como nunca vimos.”

Em uma entrevista publicada originalmente em “La Gazeta” (seção Ideias), o diretor de El Manifiesto, Javier Ruiz Portella, conversa longa e detidamente com Alain de Benoist, aos 80 anos de seu nascimento e aos 50 anos do lançamento da Nova Direita.
1.
JAVIER RUIZ PORTELLA: Cinquenta anos atrás, Vossa Senhoria colocava em marcha, junto com um grupo de camaradas e amigos, o que mais tarde ficaria conhecido como a Nova Direita. Uma tarefa colossal! Porque não se tratava apenas de defender ou atacar tais ou quais ideias, reivindicações, conflitos… antes, se tratava ― e se trata ― de transformar toda a nossa visão de mundo; ou seja, a configuração de ideias, sentimentos, desejos … envolvendo os homens de hoje, que assim vivemos e morremos.
E como buscamos algo novo, diferente, está claro que o devemos buscar longe dos dois grandes pilares (já meio derrubados…) que chamamos de “direita” e “esquerda”. Assim, Vossenhoria não acredita que os novos pilares destinados a sustentar o Verdadeiro, o Belo e o Bem (que hoje nada sustenta) estejam mais perto do espírito da direita ― desde que não liberal, não teocrática e tampouco plutocrática ― do que de uma esquerda que, no melhor dos casos, sempre será individualista, igualitarista e materialista?
ALAIN DE BENOIST: Desconfio das palavras com iniciais maiúsculas. Eu conheço coisas belas e coisas feias, coisas boas e coisas más, mas nunca topei com o Belo e com o Bem em si. O mesmo ocorre com a esquerda e a direita. “A direita” e “a esquerda” nunca existiram. Sempre houve direitas e esquerdas (no plural), e a questão de se possamos encontrar um denominador comum para todas essas direitas e todas essas esquerdas segue sendo objeto de debate. Vossoria mesmo admite isso quando fala de uma direita “não liberal, não teocrática e tampouco plutocrática”: é a prova de que junto à direita que Vossoria aprecia há outras. Porém, quando Vossoria fala da esquerda, volta imediatamente para o singular! É um erro. Grandes pensadores socialistas como Georges Sorel e Pierre-Joseph Proudhon não eram nem individualistas, nem igualitaristas, nem materialistas. Tampouco cabe atribuir esses qualificativos a George Orwell, Christopher Lasch ou Jean-Claude Michéa. Tampouco devemos confundir a esquerda socialista, que defendeu os trabalhadores, com a esquerda progressista, que defende os direitos humanos (não é o mesmo). Só se pode dizer que o igualitarismo, para dar um exemplo, foi historicamente mais comum “na esquerda” do que “na direita”. Porém, falando isso, não dizemos grande coisa, quando menos porque também há formas de desigualdade na “direita”, sobretudo na direita liberal, que me parecem totalmente inaceitáveis. Por isso, acredito que devamos julgar caso por caso, em lugar de utilizar etiquetas, que sempre são equívocas. Como eu já disse muitas vezes, as etiquetas servem mais para os potes de geleia! Não cedamos ao fetichismo das palavras.
Creio que nós dois prezamos os tipos humanos portadores de valores com os quais nos identificamos. Esses tipos humanos são mais comuns na “direita” do que na “esquerda”, isso eu atesto sem vacilar. Nesse sentido, sinto-me completamente “de direita”, mas não faço disso um absoluto. Uma coisa são os valores, e outra, as ideias. Eis por que não tenho nenhum problema em me sentir “de direita” de um ponto de vista psicológico e antropológico, reconhecendo, ao mesmo tempo, a validade de certas ideias que geralmente são atribuídas, com ou sem razão, à “esquerda”.
2.
JAVIER RUIZ PORTELLA: O que Vossia sente depois de cinquenta anos transbordantes de reflexões, combates, vitórias… ou alguma pequena derrota, talvez? Suponho que sua alegria terá sido grande ao constatar que o espírito da Nova Direita, ainda longe de conformar agora “o horizonte espiritual de nossa época” (como dizia Sartre sobre o marxismo), chegou, no entanto, a marcar o campo de ação intelectual da França; sem falar de sua presença, embora menos vigorosa, em países como Itália, Alemanha, Hungria, a própria Espanha…
ALAIN DE BENOIST: É a eterna história do vaso meio cheio ou meio vazio. Sim, de fato, em cinquenta anos, houve muitos êxitos. A Nova Direita não só não desapareceu (meio século de existência para uma escola de pensamento já é extraordinário), como ainda os temas que introduziu no debate ganharam ampla repercussão na maioria dos países europeus. Disso dão prova os milhares de artigos, livros, conferências, colóquios, traduções e encontros que marcaram os últimos cinquenta anos. Isto posto, também devemos ser realistas: os pontos referidos não impediram o avanço das forças do caos. O “horizonte espiritual de nosso tempo” não tem nada de espiritual, absolutamente: é o horizonte de um ocaso, ocaso que se acelera cada dia mais. Declarar, como desejável, que “o niilismo não passará por mim” não muda coisa nenhuma. Como dizia Jean Mabire, não transformamos o mundo, mas o mundo não nos transformou. E não nos esqueçamos de que o momento da “luta final” ainda não chegou.
3.
JAVIER RUIZ PORTELLA: Entre os diversos fenômenos verificados no mundo hoje, quais Vossia considera que portam a esperança e quais outros trariam a desesperança? Tudo está, obviamente, entrelaçado, mas nesse emaranhado de fenômenos sociais, culturais, políticos… onde estaria o nosso principal inimigo e onde estaria o nosso maior amigo?
ALAIN DE BENOIST: A segunda pergunta é, obviamente, mais fácil de responder do que a primeira, porque a resposta está diante de nós. Há três grandes perigos que nos ameaçam hoje. Em primeiro lugar, os estragos da tecnologia e o condicionamento decorrente na era da inteligência artificial e da omnipresença dos computadores, que com o tempo conduzirão à Grande Substituição do homem pela máquina. E só estamos no começo disso tudo: o transumanismo já preconiza a fusão do vivo com a máquina. Em segundo lugar, a mercantilização do mundo, um dos pilares da ideologia dominante, com a adesão das mentes à lógica de benefício e à axiomática do interesse, ou seja, a colonização do imaginário simbólico pelo utilitarismo e a crença de que a economia seja o destino, de acordo com uma antropologia liberal baseada no economicismo e no individualismo, que só vê o homem como um ser egoísta buscando sempre satisfazer os próprios interesses. O principal motor disso é, obviamente, o sistema capitalista, que pretende acabar com tudo capaz de obstar a expansão do mercado (soberania nacional e soberania popular, objeções morais, identidades coletivas e particularidades culturais) e desacreditar todos los valores que não sejam os do mercado. Em terceiro lugar, o reinado quase mundial de uma ideologia dominante baseada na ideologia do progresso e na ideologia dos direitos humanos, que está semeando o caos num mundo cada vez mais voltado ao niilismo: a redução da política à gestão tecnocrática, a moda da “cultura do cancelamento”, com os delírios da ideologia de gênero propagada pelo lóbi legebético, o neofeminismo preconizando a guerra entre os sexos, o decaimento da cultura geral, as patologias sociais causadas pela imigração massiva e descontrolada, o declínio da escola, a desaparição programada da diversidade dos povos, línguas e culturas… e tantas outras coisas.
Para mim, o principal inimigo segue sendo, mais do que nunca, o universalismo no plano da filosofia, o liberalismo no plano da política, o capitalismo no plano da economia e, no plano da geopolítica, o mundo anglo-saxão.
Fenômenos “portadores de esperança”? Este é tema que devemos abordar com prudência. Para mais de a história estar sempre aberta (é, por excelência, o domínio do imprevisto, como dizia Dominique Venner), está claro que vivemos um período de transição e de crise generalizada. A ideologia dominante é, efetivamente, dominante (sobretudo porque é sempre a ideologia da classe dominante), mas ela está em processo de desintegração por toda parte. A democracia liberal, parlamentar e representativa está cada vez mais desacreditada. O auge do populismo, a emergência de democracias iliberais e dos “Estados-civilização”, os intentos de democracia participativa e de renovação cívica na base, isso tudo tem lugar quando se alarga cada vez mais o hiato entre o povo e as elites. A classe política tradicional está desacreditada. Todas as categorias profissionais se mobilizam e a raiva aumenta em todo lugar, o que abre a perspectiva de revoltas sociais em grande escala (o clássico momento em que “os de cima já não podem mais e os de baixo já não querem mais”). Ao mesmo tempo, as coisas estão mudando no plano internacional. As cartas são embaralhadas de novo entre as potências. Os próprios Estados Unidos estão em profunda crise, parece que nos encaminhamos para o fim do mundo unipolar ou bipolar e o começo de um mundo multipolar, o que acho muito positivo. Surge nova clivagem entre os BRICS (as potências emergentes) e o “Ocidente coletivo”. Numa tal situação, portas são abertas para muitas oportunidades. No entanto, o seu aproveitamento exige que abandonemos as ferramentas analíticas obsoletas e prestemos muita atenção naquilo que assoma no horizonte da história.
4.
JAVIER RUIZ PORTELLA: O que Vossia acha da bomba-relógio de contador sonoro das duas hecatombes demográficas? Aquela da aparente decisão tomada pelos europeus de, simplesmente, não mais procriar; e aqueloutra da imigração tão massiva que mais parece uma invasão, e invasão fomentada pelas próprias “elites” dos países invadidos. Ocorre-lhe alguma ideia que pareça a solução disso ou, pelo menos, algo que pudesse amortecer o efeito devastador da explosão dessa bomba?
Vossia já declarou que não lhe parece factível a remigração compulsória, que alguns propõem. Provavelmente Vossia tenha razão, haja vista o bom-mocismo piegas que impregna tudo. Então, se a remigração não é exequível, que outra opção nos resta?
ALAIN DE BENOIST: A imigração é um desastre, porque ela provoca uma mudança na identidade e na composição dos povos ao atingir certo limiar. Não podemos remediar isso numa espécie de corrida para aumentar a natalidade, que está condenada ao fracasso. Também não acredito na remigração (como tampouco na assimilação e no “laicismo”), porque, simplesmente, não é possível nas condições atuais. Como o Reconquête [“Reconquista”, partido de Éric Zemmour], ísso é só um mito de refúgio. A política é, antes de tudo, a arte do possível. No entanto, evidentemente, não se trata de nos rendermos. Quando existe vontade política (o que dificilmente ocorre hoje), podemos, sim, vencer a imigração, freando-a drasticamente, quando menos pela supressão das disposições sociais e societais que atraem imigrantes como “bombas de sucção”. Os remédios são conhecidos há muito tempo. Ocorre que, mesmo sendo um fator decisivo, a vontade política não é o único. Também é preciso haver a possibilidade de exercê-la. Ora, todas as medidas sérias destinadas a frenar a imigração estão sendo bloqueadas na atualidade pelo governo dos juízes, que carece de legitimidade democrática, mas pretende se impor tanto aos governos dos Estados quanto à vontade dos povos. Digamo-lo mais claramente: nenhum governo dará o basta à imigração se não se decidir por considerar nulas e sem efeito as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E se não se afastar da ideologia liberal.
A imigração é, na verdade, a colocação em prática do princípio liberal do “laissez faire, laissez passer” [“deixar fazer, deixar passar”], que se aplica indistintamente a pessoas, capitais, serviços e bens. O liberalismo é uma ideologia que considera a sociedade exclusivamente pelo indivíduo e não reconhece que as culturas têm a sua própria personalidade. Ao ver na imigração a chegada de um número adicional de indivíduos a sociedades já compostas de indivíduos, considera os homens como elementos intercambiáveis entre si. O capitalismo, por sua vez, desde há muito tempo busca a abolição das fronteiras. Nele, o recurso à imigração é fenômeno econômico natural. Em todas as partes, são as grandes empresas as que exigem cada vez mais imigrantes, especialmente para forçar a redução dos salários dos trabalhadores nativos. Nesse sentido, Karl Marx pôde dizer com razão que os imigrantes são “o exército de reserva do capital”. Assim, aqueles que criticam a imigração e veneram o capitalismo fariam melhor se fechassem o bico. De nada serve condenar as consequências sem atacar as causas.
5.
JAVIER RUIZ PORTELLA: Como Vossia já disse certa vez, a atual situação de nossas sociedades é a da tensão de uma típica dualidade pré-revolucionária que Vossia mesmo referiu numa de suas respostas: o velho mundo morre, mas o novo ainda não nasceu. Vislumbram-se, decerto, muitos traços do que pode constituir a nova ordem do mundo. Aí está todo o mal-estar, as mobilizações, a lutas, os avanços… destes nossos dias, embora insuficientes para mudar as coisas. Não lhe parece que uma das razões dessa dificuldade é que esse mal-estar afeta, basicamente, as camadas populares (e um núcleo de intelectuais), enquanto nenhum mal-estar perturba as “elites” indignas de tal nome, que reúne desde a esquerda festiva até os radicais chiques, passando pela esquerda-caviar?
Em outras palavras, Vossia acredita que seja possível mudar o mundo contando apenas com os de baixo e sem que uma parte significativa dos de cima sinta as mesmas ânsias de transformação? O “mudar de lado” não é o que sempre ocorreu em todas as grandes mudanças, em todas as grandes revoluções da história?
ALAIN DE BENOIST: Comecemos por recordar que, como demonstrou [Vilfredo] Pareto, a palavra “elite” é uma palavra neutra: também existe uma elite de traficantes e ladrões. As “elites” de nossas sociedades, seja políticas, seja econômicas, seja mediáticas, estão formadas por homens (e mulheres) geralmente bem formados e inteligentes (embora nem sempre) que acumularam, não obstante, uma série de fracassos em todos os campos. São pessoas isoladas do povo, vivem sem maior ligação com o próprio país, num universo mental transnacional e nômade. Também estão alheias ao real. Não vejo nenhuma utilidade em que se unam à “grande transformação” de que Vossia fala, e menos ainda em aceitar compromissos para intentar seduzi-las. Por outra parte, está claro, não obstante, que as classes trabalhadoras, que agora se levantam contra essas “elites”, necessitam de aliados. E terão cada vez mais aliados por causa do empobrecimento das classes médias. Dessa aliança entre as classes trabalhadoras e os empobrecidos das classes médias pode surgir o bloco histórico que termine por se impor. Se isto ocorrer, veremos então os oportunistas de cima solidarizando-se com os rebeldes de baixo; algo que já se viu em todas as grandes revoluções da história. E, como sempre, é do povo que surgirão as novas e autênticas elites de que precisamos.
6.
JAVIER RUIZ PORTELLA: Dado o seu conhecido questionamento do capitalismo, alguns chegaram a dizer que a Nova Direita deviera uma espécie de Nova Esquerda… Deixando de lado esse tipo de gozação, a verdadeira questão é a seguinte: o que devemos fazer com o capitalismo? Acabar com ele, Vossia dirá. Mas, então, colocar o que no lugar dele? Seria o caso de substituir o capitalismo pela propriedade estatal dos meios de produção? Deveria ser abolido o mercado e a propriedade, como os comunistas fizeram em todas as partes? Não, Vossia dirá, sem dúvida. Mas, então, se o programa for o de abolir as clamorosas injustiças do capitalismo, salvaguardando o mercado, o dinheiro e a propriedade ― embora colocados fora do altar em que se encontram hoje ― isto não seria ― e eu me refiro só ao âmbito econômico ― um simples reformismo?
ALAIN DE BENOIST: “Para os nossos contemporâneos, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”, dizia o teórico britânico Mark Fisher em 2009. Nessa situação, muitos fazem a sua pergunta: como sair do capitalismo e o que poderia substituí-lo? Ao fazê-lo, e sem nos darmos conta, estamos naturalizando abusivamente um fenômeno histórico perfeitamente localizado. A humanidade viveu sem o capitalismo durante milhares de anos: por que amanhã não poderia passar sem ele outra vez? O capitalismo não é toda a economia, nem sequer todas as formas de intercâmbio. O capitalismo é o reino do capital. Surge quando o dinheiro devém capaz de se transformar em capital que se incrementa perpetuamente por si mesmo. O capitalismo é também a transformação das relações sociais conforme as exigências do mercado, a primazia do valor de troca sobre o valor de uso. a transformação do trabalho vivo em trabalho morto, a suplantação do ofício pelo emprego etc. Um sistema assim só pode funcionar sob a condição de se expandir constantemente (ele cai quando parado, que nem uma bicicleta), daí o ilimitado ser o seu princípio. Sua lei é a híbris, a desmedida, a fuga para a frente na corrida desenfrenada para o “cada vez mais e mais”: cada vez mais mercados, mais lucro, mais livre comércio, mais crescimento e cada vez menos limites e fronteiras. A aplicação desse princípio levou à obsessão do progresso técnico, à financeirização crescente de um sistema que há muito tempo perdeu todas as suas raízes nacionais, conduzindo, ao mesmo tempo, à devastação da Terra.
A oposição de princípio entre o público e o privado é uma ideia liberal em si mesma. Portanto, sair do capitalismo não significa, absolutamente, substituir a iniciativa privada pela propriedade estatal dos meios de produção, que não resolve nada (a antiga URSS era um capitalismo de Estado). Tampouco significa suprimir toda forma de mercado, significa, isto sim, sobrepor o local ao global, a rota curta ao comércio de longa distância. E, obviamente, tampouco significa abolir a propriedade privada, não devendo esta, por outro lado, se converter num princípio absoluto, como querem os liberais. O terceiro setor já é uma realidade, como as cooperativas e as empresas mutualistas. Para além da falsa oposição entre o privado e o estatal, estão os bens comuns, tais como eram entendidos antes do nascimento da ideologia liberal. Nesta redefinição dos bens comuns é que nos devemos concentrar para pôr em marcha uma economia de proximidade em favor, prioritariamente, dos membros desta ou daquela comunidade. Isso não tem nada de reformismo, pois exige a transformação radical das mentalidades.
Consabidamente, o capitalismo está em crise hoje. Os mercados financeiros pensam e agem no imediatismo do dia-adia, os défices alcançam níveis recordes, o “numerário fictício” flui como água, e o mundo todo está preocupado com um possível colapso do sistema financeiro mundial. A perspectiva não é necessariamente agradável, já que tais crises costumam acabar em guerra.
7.
JAVIER RUIZ PORTELLA: Permita-me voltar à pergunta anterior. Se um revolucionário sectário e radical dissesse que esse enfoque, no tocante à economia, não deixa de ser reformista, não se lhe deveria responder fazendo-o ver que nada de reformista tem, em qualquer caso, tudo o mais? Tudo o mais: toda essa visão do mundo que coloca o dinheiro no centro da vida pública e privada, que então ressumam toda a gosma da democracia liberal e partitocrática, individualista e igualitarista que conhecemos?
Tratar-se-ia, talvez, de reformar, de emendar esse estado de coisas, incluído seu democratismo niilista? Ou a proposta é completamente diferente? Em uma palavra, por que lutamos? Lutamos por reformas ou por revolução?
ALAIN DE BENOIST: É claro que não lutamos por reformas. Pretendemos o que Heidegger chamava de “novo começo”. Isto não significa repetir o que os outros fizeram antes de nós, mas de tomarmos o seu exemplo como inspiração para inovarmos por nossa vez. Substituir a desmedida capitalista pelo sentido dos limites, lutar contra o universalismo em nome das identidades coletivas, substituir a moral do pecado pela ética da honra, reorganizar o mundo de forma multipolar (“pluriversalismo” em vez de universalismo), priorizar os valores de comunidade sobre os da sociedade, lutar contra a substituição do autêntico pelo sucedâneo e do real pelo virtual, redefinir o direito como equidade em las relações (e não como um atributo de que todo o mundo seria proprietário ao nascer), restabelecer a primazia do político (o governo dos homens) sobre o econômico (a gestão das coisas), devolver um sentido concreto à beleza e à dignidade, reabilitar a autoridade e a verticalidade…: isto é o que seria uma revolução. E até uma revolução ― ousamos dizê-lo ― como nunca vimos.
Fonte: La Gaceta | Autores: Javier Ruiz Portella (entrevistador) e Alain de Benoist (entrevistado) | Título original: Alain de Benoist: “Luchamos por una revolución como nunca hemos visto.” | Data de publicação: 23 de março de 2024 | Versão brasilesa: Chauke Stephan Filho.