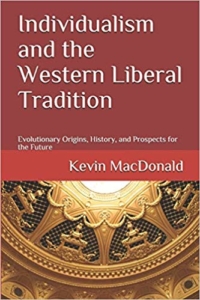A teoria crítica da raça: uma arma do arsenal intelectual judeu

Não se enganem sobre isto: nós continuaremos a atacar os homens brancos, os vivos e os mortos, e também as mulheres brancas, até que o constructo social chamado de “raça branca” seja destruído ― não “desconstruído”, mas destruído.
(NOEL IGNATIEV. In: Race Traitor)
A promoção dos “Estudos da Branquidade” deve ser percebida como nada menos do que ato de extrema agressão, violento até, contra a raça branca.
(ANDREW JOYCE. In: Whiteness Studies)
Para ser efetiva, a engenharia social deve passar despercebida.
(MICHAEL JONES. In: Logos Rising)
No começo deste ano, meu irmão propôs-me, subitamente, uma questão: “O que é a teoria crítica da raça?”. A pergunta me deixou entusiasmado, porque provava que essa perniciosa teoria genocida e antibranca estava começando, finalmente, a entrar no radar da consciência dos brancos. Desde o dia da interrogação que fez o meu irmão, pulularam como cogumelos as histórias sobre a Teoria Crítica da Raça (TCR), com muita crítica a essa tendência intelectual antes tão misteriosa.
Entretanto, a hora do espanto foi quando observei que ninguém ou quase ninguém dos tais críticos havia associado a TCR ao ativismo étnico judeu.
Embora a teoria já tivesse aceitação desde longa data nos círculos universitários, ela agora penetra ambientes corporativos e governamentais, insinuando-se também no meio militar, onde passou a ser promovida desde que Joe Biden tomou posse como presidente. Quanto a mim, não de hoje sei desse fato que é a ligação da TCR com a “elite hostil”, para quem a teoria é ferramenta de engenharia social. Na nomenclatura sociológica de The Occidental Observer, a expressão “elite hostil” designa os poderosos judeus e organizações judias que controlam os Estados Unidos e a maior parte do Ocidente. De modo geral, entretanto, os nossos escritores tratam o tema da TCR de perspectiva diversa, fazendo-o sob a influência dos chamados “Estudos da Branquitude”. Ao contrário deles, eu relaciono a “Teoria Crítica da Raça” com a atual discussão sobre a guerra étnica que os judeus movem contra os brancos.
A TCR, na verdade, enquadra-se perfeitamente no que Kevin MacDonald chama de “Cultura da Crítica”, uma categoria na qual figuram os “gurus” judeus que verbalizam o ataque talmúdico com o objetivo principal de completar a destruição dos gentios ― literalmente! Eu sei disso porque estive muito próximo do palco onde se representava a farsa que foi a introdução da TCR nas escolas de pós-graduação nos anos noventas, quando vivi a infelicidade de ter um farsante desse tipo de dramaturgia como meu “professor”. O espetáculo brutal de que participei teve o lado positivo de me permitir sondar e conhecer mais profundamente os seus produtores judeus. Com efeito, terminada a triste representação, senti que tudo fora para mim duro processo de aprendizagem, mas valeu a pena: agora eu posso compartir com os meus leitores as lições que aprendi.
Eu vou começar a contar essa história falando de um escritor australiano, agora obscuro, chamado Robert Hughes (1938–2012), que já foi descrito como “o mais famoso crítico de arte do mundo”. Em 1993, saturado de tanta política identitária, ele publicou o livro Culture of Complaint: The Fraying of America [Cultura da denúncia: a desintegração dos Estados Unidos], pela Editora da Universidade de Oxford. Nesse livro, ele atacou frontalmente a Indústria das Queixas, então em vertiginosa ascensão, dando exemplos e mais exemplos de como grupos militantes minoristas, sobretudo de mulheres e negros, atribuíam todo tipo de pecado à minoria branca, contra quem falavam mais do que o homem da cobra, hostilizando-a por meio de espúrias denúncias judiciais e manifestações de rua. Eu me lembro de que o livro dele atraiu bastante a atenção da imprensa da época, com muitos jornais tomando o partido do autor australiano, tal era a insatisfação com a “cultura da denúncia”.
O que me deixou frustrado, entretanto, foi o fato de o estudo de Hughes não haver ido além da própria denúncia, o fato de ele não ter conseguido aprofundar sua análise para chegar ao nível do que se pode chamar de “metadenúncia”, substrato de onde partem todas as denúncias como simples consequências. Por exemplo, Hughes não percebeu que a narrativa do Holocausto obteve tanto sucesso como meio de favorecer os interesses judeus que outros grupos ficaram ansiosos para também gozar do mesmo artifício tão interessante.
Em 1993, a indústria da denúncia começava a gostar do jogo e crescia para logo depois acabar dominando tudo, tanto que já na minha “pós-graduação” tive de suportar a experiência horrível que referi acima. Então se passou que a simples denúncia foi ganhando vulto, foi se tornando coisa muito mais perniciosa, muito mais ameaçadora. Desde sempre, porém, o sentido das denúncias era um só: combater a raça branca.
Depois de muito sofrimento, finalmente terminei a pós-graduação, muito abalado emocionalmente, muito judiado, mas com o diploma na mão. Almas mais robustas dirão que, se não morri, então devo engordar, mas já apanhei demais e não vou bancar o fanfarrão. Ao contrário, tento ser discreto e trabalho aturadamente, fazendo o que posso para manter a resistência. O jogo do judeu é bruto, e eles não aceitam perder.
Alguns anos depois, eu me empenhava com afinco na elaboração de alentado trabalho versando acerca do poder judaico nos Estados Unidos. Nessa ocasião, um professor de história, formado em Harvard, com título de Ph.D., me aconselhou a “dar a devida atenção ao trabalho de Kevin MacDonald”. Eu fiz isso — e a experiência de ler Kevin MacDonald mudou a minha vida. A trilogia deste autor, culminando com The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements, caiu do céu para mim, quando mais eu precisava; a partir daí, eu estava pronto para dar a devida atenção ao que o Mestre tinha a dizer.
Logo de cara, eu percebi a semelhança entre o título do livro de Hughes (Culture of Complaint) e aquele do livro de MacDonald (Culture of Critique), mas o livro de MacDonald tem muito mais importância do que o de Hughes, porque MacDonald foi mais feliz ao centrar o foco do seu estudo, precisamente, no judeu. Na verdade, se os brancos sobreviverem à guerra étnica descrita por MacDonald, The Culture of Critique fará o seu autor figurar no panteão da civilização ocidental. Então as futuras gerações de brancos conhecerão o nome de Kevin MacDonald como o de um semideus, herói de sua raça, e ele a todos parecerá alguém da própria família, assim apresentado desde as lições escolares de História. Amém.
Aqui eu suponho que o nosso leitorado conheça o básico do Culture of Critique e do livro posterior, Cultural Insurrections, assim eu já salto à frente para referir outras realizações e enfrentamentos subsequentes de nosso herói. A ciberteca The Occidental Observer é criação dele. O TOO teve origem como rebento da publicação anterior denominada The Occidental Quarterly, uma revista digital acadêmica. Anteriormente, em 2008, MacDonald tinha publicado um artigo intitulado “Promoting genocide of Whites? Noel Ignatiev and the Culture of Western Suicide”, no qual ele analisa os artifícios vocabulares desse professor judeu de Harvard, já falecido, usados para tornar mais sutil a expressão de sua vontade de exterminar brancos. Ignatiev foi o fundador da revista Race Traitor, que tem por divisa a caridosa frase “Trair o branco é ser leal à humanidade”. Este eslógão lembra, imediatamente, as palavras infames da judia Susan Sontag, ao escrever que
A verdade é que Mozart, Pascal, a álgebra booleana, Shakespeare, o governo parlamentar, as igrejas barrocas, Newton, a emancipação feminina, Kant, Marx, o balé de Balanchine e tutti quanti não redimem a civilização branca da desgraceira em que transformou a história do mundo. A raça branca é o câncer da humanidade […].
Situando a inteligente manipulação das palavras por parte de Ignatiev na categoria das ideologias judias desconstruídas no seu Culture of Critique, MacDonald escreveu:
Nossa interpretação é que as visões de Ignatiev resultam de competição étnica. Sendo um judeu esquerdista, ele é parte de uma longa tradição de oposição ao interesse e à identidade dos brancos — a cultura da crítica, que se tornou a cultura do suicídio do Ocidente. E como sói acontecer com tantos judeus fortemente assumidos, seu ódio dos povos e da cultura do Ocidente aflora inflamado.
Recorrendo ainda às categorias constantes em Culture of Critique, MacDonald conclui que
Ignatiev é mais um intelectual judeu de longa série remontando a Franz Boas, à Escola de Francforte e a uma miríade de outros que agora mestreiam na cultura suicida do Ocidente. Ele pode se chamar de traidor da raça, mas não faltam razões para acreditar na sua forte atitude de lealdade para com o seu próprio povo e de hostilidade para com o povo e a cultura do Ocidente, posturas de longa história típicas dos judeus altamente comprometidos consigo mesmos. Para ele, a traição da raça consiste em algo de fácil e natural ocorrência; trata-se do leite materno na formação de um judeu.
Como que por maldosa ironia do destino, o professor judeu que me atormentou durante a minha pós-graduação, como também fez com outros colegas brancos, tinha muitas semelhanças com Ignatiev, a começar pelo biótipo, mostrado na foto abaixo:

O judeu Noel Ignatiev (1940 – 2019) “ensinava” na Universidade da Pensilvânia que a solução final para os problemas sociais consistia no “extermínio da raça branca”. (Créditos: Pat Greenhouse /Globe Staff.)
E quando MacDonald escreveu que “Gente como Ignatiev, sem dúvida de aguçada consciência de identidade e interesse étnicos, nunca mediu esforços para alcançar o objetivo de patologizar qualquer sentido de identidade e interesse étnicos dos povos europeus e euro-descendentes — e de nenhum outro”, ele indicava atributos que eu notaria em grau superlativo no professor-opressor da minha pós. Isso a que estávamos sujeitos nos anos noventas é o mesmo que se passa agora por imposição da TCR: os novos autos de fé — agora sutilizados, as leituras obrigatórias sobre o “privilégio branco”, a completa falta de contraditório ou debate ou questionamento. Nosso querido professor sujeitava à humilhação os meus colegas brancos, e eu tinha de assistir a esse triste espetáculo durante as “aulas”. Certa vez uma moça chegou a chorar, depois de repreendida de modo acabrunhante. Mulher chora mesmo — pode pensar o leitor malicioso, mas o doutrinador judeu conseguiu também marejar os olhos de estudante do sexo masculino, no maximante da minha indignação. O “curso” foi um horror.
Embora MacDonald não tenha empregado a expressão “teoria crítica da raça”, por referência ao assédio de Ignatiev, ele estava, de fato, tratando disso mesmo. Melhor ainda, MacDonald penetrou a falaciloquência de Ignatiev, devassando o seu real intento, coisa que outros fariam no TOO, desde então, seguindo o exemplo de MacDonald. Logo voltaremos a este ponto, mas antes eu gostaria de fazer uma rápida digressão para não perder a boa oportunidade.
O caso é o seguinte: quando eu trabalhava na redação da minha dissertação, depois de haver cumprido todos os créditos e sido aprovado nos exames, um outro professor judeu me deu um livro, o qual ele tinha recebido de alguém que dele esperava alguma eventual contribuição crítica. O professor não quis comentar nada e cedeu para mim o exemplar novinho, cuja capa era como mostramos abaixo:
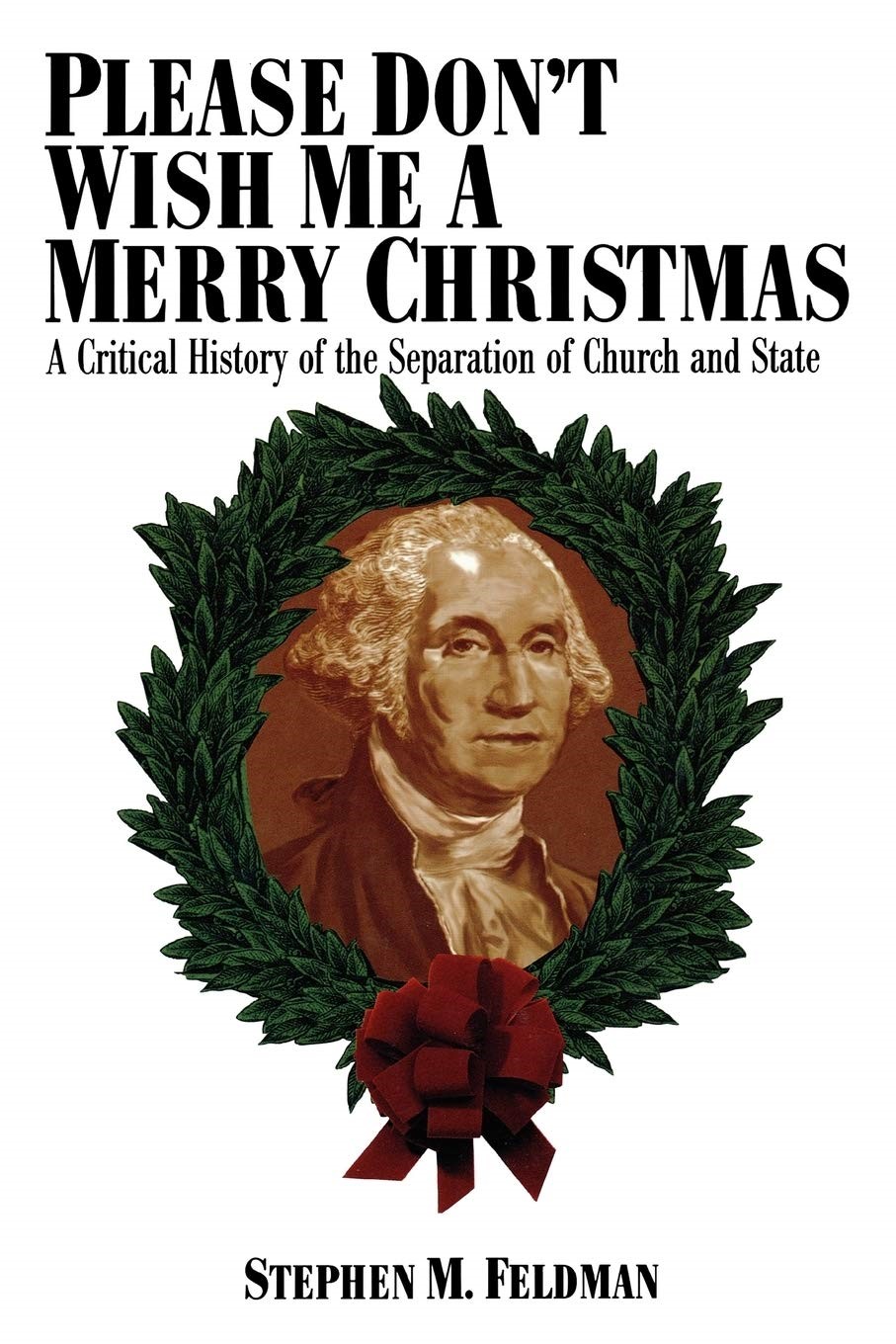
Escrito em 1997 pelo professor de Direito Stephen M. Feldman, o livro, como visto, intitulava-se Please Don’t Wish Me a Merry Christmas: A Critical History of the Separation of Church and State [Por favor, não me deseje feliz Natal: história crítica da separação entre a Igreja e o Estado]. A expressão “história crítica” no subtítulo já indicava que se tratava de mais um lançamento do projeto the Critical America Series, da NYU Press, que já publicou miríadas de títulos, dos quais os leitores podem desfrutar em seus momentos de lazer. Ah, eu devo mencionar detalhe dos mais significativos logo no começo da Introdução. O autor abre o texto dizendo “Eu sou judeu”. Com essa cabalística proclamação começava mais um ataque da “cultura da crítica” contra o homem ocidental e a sua mais celebrada efeméride.
“Estudos da Branquitude”: o olhar crítico de Andrew Joyce
The Occidental Observer foi extremamente feliz ao somar à plêiade de seus articulistas o talentoso Andrew Joyce, de cujo engenho redacional deu prova o seu artigo inicial no TOO, publicado em 2012, no dia de São Patrício [17 de março], intitulado Limerick “pogrom”: Creating Jewish victimhood. Em 2015, entretanto, ele publicou o que pode ser considerado uma extensão do livro de MacDonald de 2008, no qual este devassa a brutal campanha intelectual de Ignatiev. Em “Jews, Communists and Genocidal Hate in ‘Whiteness Studies’”, abeberando-se na fonte de MacDonald, Joyce mostra que “Ignatiev não se preocupou tanto em disfarçar o desbragado ódio que a sua ‘disciplina’ incita contra os brancos e sua cultura”. Em citação indireta de MacDonald, Joyce notou que
Ignatiev et caterva inventaram uma história que eles contam da seguinte forma: era uma vez certa corja de malvados que se reuniu na calada da noite e criou a categoria chamada “branco”, que consideraram exclusiva deles, não podendo gente de outra cor fazer parte dela. Aí esses bandidos estabeleceram leis para favorecer toda a canalha da bitola deles, aí dominaram a economia e a política de maranha com outros brancos, aí inventaram teorias científicas sem pé nem cabeça para justificar a boa vida deles, dizendo que eram mais inteligentes e operosos por causa de condições naturais de caráter biológico que desigualaram a humanidade. Aí eles fizeram de tudo contra todos para continuarem no bem-bom, ainda com mais animação. E continuam fazendo isso até hoje, como as bestas humanas superiores.
Tudo o que Ignatiev escreveu contém mensagem inusitada, formulada em linguagem extremamente agressiva… Nos seus textos, sombrios e dramáticos, Ignatiev prega a “supressão da raça branca”, o “genocídio dos brancos” e quejandas “providências”. Quando pressionado, ele diz que houve um mal-entendido, que a coisa não é bem assim, que não quis dizer que as pessoas que se dizem brancas devam ser mortas. Segundo sua explicação, ele apenas deseja destruir o conceito de branquidade. Com isso ele mostra não ter pela raça branca nenhum desapreço, certo?
O próprio Joyce responde a essa pergunta:
Nem por isso. Na verdade, Ignatiev morde e assopra. Quando pode, só morde. Estando completamente afinado com sua identidade racial judaica, ele segue, ao mesmo tempo e de forma ostensiva, a linha politicamente correta de que raças são apenas “constructos sociais”. Quando pressionado, ele alega ser pouco mais do que um igualitarista radical, batendo-se contra todas as hierarquias sociais, mas especialmente contra aquelas nas quais ele imagina que os brancos estejam na posição superior.
A exemplo de MacDonald, Joyce também percebe facilmente o ardiloso jogo de Ignatiev. Joyce escreve: “A linha do partido de Ignatiev é toda ela dirigida contra o branco, o objetivo é fazer com que os brancos acabem pensando que não são brancos — para o bem e a elevação espiritual deles, é claro. Assim, enquanto os estudos do negro, da mulher, do chicano etc. colimam desenvolver e sustentar suas identidades relativas e agendas sociais, os chamados ‘estudos da branquidade’ objetivam extinguir totalmente qualquer senso de identidade e de consciência quanto a interesses grupais”. Essa diferença é muito importante.
Por volta de 2015, muito do que Joyce escrevera era familiar para mim. Eu tinha assimilado as lições desse meu mestre e me lembro muito bem delas.
Por exemplo, Joyce informava que a mulher de Herbert Marcuse, o membro da Escola de Francforte, “estivera quase sempre ocupada com a promoção de sua ideologia nas oficinas chamadas de ‘Desaprendendo o Racismo’ e com a inculcação de adolescentes brancos, que ela aliciava para que apoiassem o multiculturalismo, aderindo ao seu grupo ‘New Bridges’, com sede em Oakland”.
Mais um exemplo: Joyce referiu também outra mulher judia, Ruth Frankenberg, que em 1993 “explicava” o dogma de sua disciplina sobre a branquidade. Joyce explica essa “explicação” nos seguintes termos:
[O dogma] gira em torno do princípio segundo o qual a raça nada mais é do que fluxível constructo social, político e histórico. Ela argumentou que os brancos podem dizer que não são racistas, mas não podem dizer que não são brancos. Ruth Frankenberg postula que os brancos são todos implicitamente racistas em virtude da posição “dominante” que ocupam na sociedade ocidental e encarece a necessidade de reflexão crítica para subverter a ordem das coisas que fazem possível a condição da superioridade branca. Os “estudos da branquidade”, para Frankenberg, assim como para seus predecessores, não eram senão método para convencer os brancos de que eram opressores, tivessem eles, ou não, consciência e desejo disso, tivessem eles, ou não, tomado parte, pessoalmente, em qualquer ato de opressão.
Eu estava lá, eu ouvia essas coisas nos anos noventas. E hoje toda essa narrativa está de volta, ainda com mais força, com mais apoio institucional. Agora, na era de [John] Biden, o grande público sofre a pressão ideológica que sofri naquele tempo. Isso me deixa angustiado.
Joyce tinha, já então, outras boas coisas a dizer. Por exemplo, a citação de Savitri Devi extraída de The Lightning and the Sun [O raio e o Sol]. Nessa passagem ela elucida muito bem a forma embelecada com que os judeus disfarçam a sua agressão para engabelar as vítimas:
Inconspícua, gradual, mas implacável: a perseguição é econômica e cultural, ao mesmo tempo. Os subjugados sofrem sistemático cancelamento de quaisquer possibilidades, sempre discretamente; o impiedoso condicionamento das crianças, tanto mais horrível quanto mais impessoal, indireto, mais aparentemente “suave”; a inteligente difusão de mentiras mortificantes da alma; a violência sob a capa da não violência.
“A violência sob a capa da não violência” — sim, mas também pode prevalecer a violência propriamente dita, no caso de os brancos se tornarem impotentes ante a maré montante da cor. Esta situação, com efeito, já se configura na disparada da brutalidade antibranca, conforme mostram as estatísticas da criminalidade inter-racial. Daí a ocorrência de incidentes como aqueles compilados na AmRen.
Foram dinâmicas de manipulação constrangedoras como aquelas que me fizeram sentir tanto desconforto, anos atrás, quando eu era um isolado e impotente estudante de pós-graduação. Naquela altura, eu não conhecia nenhum Kevin MacDonald ou Andrew Joyce que me desse a conhecer o contexto da situação, que fortalecesse minha autoconfiança para a reação ante os manipuladores. Eu era mortificado, mas como diz E. Michael Jones na epígrafe deste ensaio, “Para ser efetiva, a engenharia social deve passar despercebida”, e eu não a percebia mais ampla e criticamente, por falta de referências, de contravoz à voz da alteridade articulada pelo professor como ciência de aceitação universal obrigatória. O programa de doutrinação multiculturalista devia passar despercebido. Aparentemente tratava-se de um “curso”, a inculcação passava por ser “aula”. Quem contestaria abertamente os “ensinamentos” de um professor?
A advertência de Jones não me era completamente compreensível, mas eu sofria com o duro efeito do que ele referia: a sutileza da socioengenharia como condição de sua efetividade. Atualmente, tanto quanto naquele tempo, o processo mental de dissolução étnica continua muito efetivo. E isso me dá medo.
Desde a pós-graduação, o meu objetivo tem sido o de compreender a engenharia social e compartir com outros do meu entendimento, o que venho tentando incansavelmente, nas salas de aula e nos meus artigos. Agora estou me sentindo muito bem na companhia de homens como Andrew Joyce. Este sintetizou o seu conceito dos “Estudos Brancos” de forma emblemática nesta declaração:
Os programas “educacionais” da ADL, a extinção de nossos limes nacionais, o desrespeito à nossa identidade racial confirmam o lento processo de genocídio de nosso povo, aparentemente pacífico, porque prescinde de ferro e fogo. Suas implicações, porém, são e serão de aterradora violência. Os “estudos da branquidade” não constituem parte de nenhuma disciplina acadêmica, no verdadeiro sentido dessa expressão. Trata-se, na realidade, de um ato de agressão interétnica.
Joyce voltou a examinar o envolvimento judeu nos estudos brancos (bastante aparentados à teoria crítica da raça, vale lembrar) em 2020, ao escrever “Review of Robin DiAngelo’s White Fragility” [Crítica de Fragilidade Branca, de Robin DiAngelo]. Diz Joyce que esse livro “é pesada e explicitamente influenciado pelo pensamento judeu e pelos pioneiros judeus num campo por onde passa o caminho de DiAngelo para a fama e a fortuna”.
Joyce encontrou evidência concreta do patrocínio judeu a DiAngelo na bibliografia do livro dela. Na relação, ele diz,
estão muitos nomes deparados na minha pesquisa dos “estudos brancos” (ou seja, antibrancos, não custa lembrar). Quase todas as figurinhas carimbadas do racismo judeu antibranco constavam lá, protuberantes da página para molestar os olhos, assim como a visão de parentes desagradáveis numa reunião de família. No inventário, radiavam sua luz negra tipos como Noel Ignatiev, George Lipsitz, Ruth Frankenberg, Michelle Fine, Lois Weis. Outros de seus patrícios davam-lhes apoio, a exemplo de Thomas Shapiro, David Wellman, Sander Gilman, Larry Adelman e Jay Kaufman. Tais são os prógonos e tutores intelectuais de DiAngelo …
Assim é como a coisa costuma ser. Temos aí um padrão que se repete muito frequentemente. E isso não ocorre por acaso. Tudo é feito de caso pensado pela manutenção da mentalidade antibranca na cabecinha emoldurada do próprio branco. O nome desse fenômeno: literatura etnomasoquista.
A teoria crítica da raça nas notícias da atualidade
Um caso muito interessante a propósito da nossa discussão é o do tenente-coronel Matthew Lohmeier. Este oficial foi expulso da Aeronáutica pelo “crime” de escrever, de manifestar suas opiniões sobre a introdução da TCR nas Forças Armadas. Cá entre nós, no presente clima político, o homem estava procurando sarna pra coçar, quando quis publicar livro com o título antissocial de Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military [Revolução irresistível: os conquistadores marxistas & a dissolução das Forças Armadas americanas], mas isso mesmo é o que o cara fez. Em artigo saído no ciberjornal Revolver News, tratando dessa questão, nós lemos o seguinte: “Lohmeier foi a programas de rádio para promover seu livro e, como resposta, foi demitido do Pentágono. De acordo com o DoD [Departamento de Defesa], suas declarações causaram ‘perda de crédito e confiança em sua capacidade de comando’”.
O artigo continua: “Vistas da perspectiva de dezenas de milhões de patriotas americanos e da nossa própria, as ações do Cel. Lohmeier elevam-no ao pináculo da coragem e da guiança”. Eu subscrevo. Entretanto, o coronel tem lições a aprender comigo e com MacDonald. Pensemos na seguinte questão: quando uma expressão como “teoria marxista da raça” é usada por um autor, ele o faz consciente de que tal expressão, na verdade, significa “teoria judaica da raça”? A resposta parece ser negativa. E aí está o problema. Consideremos as seguintes palavras de Lohmeier:
Sempre me perguntam “Como foi que isso aconteceu?” ou “Quando foi que isso aconteceu?”. As pessoas querem saber, por exemplo, como o povo americano, suas instituições — principalmente o sistema educacional e, agora, as agências federais, as Forças Armadas, inclusive — se transformaram em câmaras de ressonância da narrativa marxista, em corpos aliados do movimento comunista. Com efeito, como os americanos pudemos tão levianamente questionar ou desconsiderar a grandeza do ideal americano, fazendo-nos vítimas das táticas da subversão? Por que não fomos capazes de perceber a nossa deriva para o marxismo? Duas foram as formas como isso se passou: gradualmente e, depois, subitamente.
Obviamente, quem leu The Culture of Critique sabe “como isso aconteceu”. Quem ouviu os arquivos de aúdio de The Daily Shoah sabe “como isso aconteceu”. Quem leu as histórias de Andrew Anglin em The Daily Stormer sabe “como isso aconteceu”. Mas, sinceramente, eu acho que o Cel. Lohmeier não faça nem ideia de “como isso aconteceu”. Alguém pode fazer o favor de mandar este meu texto para ele?
Quem haja acompanhado a “evolução” das universidades americanas, nas últimas três décadas, terá notado que seu viés esquerdista acentua-se a cada ano. Sobretudo os estudantes de Política, Direito e Administração confirmarão esse processo. Não é de estranhar que o avanço esquerdista tenha demorado mais para alcançar as Forças Armadas, e que nestas tenha havido alguma resistência, alguma consciência do que se passa. Essa forma de reação foi indicada por Lohmeier: “Há crescente percepção de que o partidarismo político que grassa nas Forças Armadas é da esquerda radical”. Sim, meu caro, é da esquerda radical.
Outro aspecto da questão: será que Lohmeier vê a introdução da TCR nas Forças Armadas como alguma coisa danosa em termos gerais ou ele a vê como arma intelectual judaica especificamente antibranca? Provavelmente ele saiba do conteúdo antibranco dos programas oficiais nas FF.AA., provavelmente saiba que a TCR é um cavalo de Troia. Afinal, o homem já criticou as tentativas de “descentralizar a branquidade”, uma expressão bem típica da novilíngua dos “Estudos Brancos”.
Mas isso é pouco, é preciso ir além. Na presente altura, ainda se discute se a TCR é apenas antidemocrática, até mesmo racista — mas de uma forma geral, ou se é especificamente antibranca. Ora, essa discussão já devia estar superada. A teoria crítica da raça (TCR) é racismo antibranco. Bem o percebeu o autor codinominado “Washington Watcher II”, que escreve para VDARE. Um de seus textos intitula-se “Fight Against Critical Race Theory — But They Still Flinch From Calling It Anti-White Racism” [Luta contra a teoria crítica da raça; eles ainda não a chamam de racismo antibranco]. Interessa notar o subtítulo: “eles ainda não a chamam de racismo antibranco”. Parece inverossímil: eles têm medo de dar o nome de teoria racista antibranca a uma teoria racista antibranca! O nosso analista Washington Watcher II sabe que os bambambãs do conservadorismo são contrários à TCR porque, conforme a crença esquisita deles, “as raças não existem”. Ele afirma que “os bestalhões conservadores, que poderiam ser chamados de cocoservadores, promovem a constrangedora ideia de que a TCR seria perversa por prejudicar os não brancos”. Sim, é mesmo difícil de acreditar, mas ele tem razão. Nossos agradecimentos a Washington Watcher II pelo esclarecimento dessa distinção, bem enfaticamente. Com efeito, na sua conclusão, ele faz um apelo aos leitores: “Repitam comigo: a TCR não é só racismo; A TCR é racismo antibranco”.
Conclusão
Chegamos, assim, ao ponto de onde avistamos a TCR como isso que ela é, de fato — ou seja: arma intelectual do racismo antibranco. O antirracismo consiste, pois, em racismo antibranco. Ocorre, entretanto, fato curioso, ainda mais elucidativo: a TCR, mesmo enquanto arma para a guerra cultural antibranca, ou melhor, por causa disso mesmo, tem sido distribuída por longa série de mentores judeus por mais de meio século, e disso pouco se fala. Tal situação explica-se por ser essa mais uma operação da campanha de judeus para exterminar os brancos. Não o fazem pela primeira vez. Precedentes históricos de atentados genocidas antibrancos perpetrados por judeus não faltam: a era bolchevique na Rússia, o Holodomor na Ucrânia, as várias estratégias “frias” documentadas por MacDonald no seu The Culture of Critique. Uma “estratégia fria” é, por exemplo, o favorecimento da imigração ou o abatimento da formação de famílias brancas. Este é o ponto que me esforço por enfatizar.
As consequências disso tudo são imensas. Vale lembrar a advertência que nos fez MacDonald em artigo de 2008 no TOO. Dizia ele, então, que a demonização dos brancos (ou da “branquidade”) era só o primeiro passo e que o segundo passo seria o genocídio dos brancos. Concordo em gênero, número, grau e caso. Aqui no TOO, tenho chamado atenção para esse risco há mais de doze anos.
Para terminar, eu vou sintetizar a discussão acima em linguagem bem simples, apenas referindo rapidamente as análises, às vezes longas, sem mais detença. Em 10 de junho de 2021, Andrew Anglin publicou artigo sob o título “Psychoanalytic Journal Publishes Paper Calling “Whiteness” a “Malignant, Parasitic-Like Condition” [Revista de psicanálise publica trabalho chamando a “branquidade” de condição maligna e parasitária]. Este texto sobre a “malignidade dos brancos” era a versão escrita das imprecações antibrancas de Aruna Khilanani, a psiquiatra de Nova Iorque de origem paquistanesa que, durante atividade “pedagógica” para a Universidade de Yale, em 6 de abril de 2021, dissera sonhar o sonho de “descarregar uma pistola na cabeça de todo branco”. A resposta de MacDonald: “Expressions of Anti-White Hatred in High Places: Aruna Khilanani at Yale” [Manifestações do ódio antibranco nas altas esferas: Aruna Khilanani em Yale]. MacDonald afirma aí que “a judiaria foi condição necessária para a criação dos Estados Unidos enquanto país multicultural” e que “não chega a surpreender a condição de Khilanani como exemplário da influência da teoria crítica da Escola de Francforte, a fonte da teoria crítica da raça”.
Evidentemente, Anglin conhece o trabalho de Noel Ignatiev e suas teorias da “disciplina” dos Estudos da Branquidade, podendo reconhecer, num piscar de olhos, sua importância para as confissões da psiquiatra não branca:
Toda essa coisarada teórica dizendo que a “branquidade” não é o mesmo que “ser pessoa branca” é só tapeação. Ninguém acha que isso faça sentido, até quem diz que faz sentido sabe que não faz sentido. Na verdade esses teóricos falam de gente branca, simples assim.
Eles querem aniquilar a raça branca.
Recentemente, nós vimos a psicóloga paquistanesa — os psicólogos, novamente! — Aruna Khilanani dizendo que deseja matar gente branca, aleatoriamente. Ela não disse que queria matar os brancos “contaminados de branquidade”, mas sim os brancos, ou seja, qualquer branco.
Com essa conversinha deles sobre a tal abstração da “branquidade” eles procuram se proteger sob fino véu semântico para mais segura e discretamente seguirem com a pregação do genocídio dos brancos.
Isso me faz lembrar das predições de Tomislav Sunic em seu livro de 2007, Homo Americanus: Child of the Postmodern Age [Homo americanus: uma criança da Era Pós-moderna]. Ele diz aí que “a eliminação de milhões de cidadãos tidos por supérfluos será uma necessidade social e, talvez, até mesmo ecológica para o melhor ordenamento da futura sociedade americanizada”. MacDonald, nos anos em que escrevia Stalin’s Willing Executioners [Os agentes testamentários de Stalin], isto é, os judeus, identificou os setores sociais que poderão ser o alvo, ou seja, “que reunirão os atributos para a sua condenação ao extermínio, segundo a sentença dos homólogos americanos da elite judaica que tiranizou os brancos na União Soviética”. Mais sobre esse particular:
É fácil imaginar quais setores da sociedade americana teriam sido considerados demasiado retrógrados e supersticiosos e por isso condenados ao extermínio por aqueles que, nos Estados Unidos, cumprem o papel que foi o da elite judia na União Soviética — aqueles que aportaram na Ellis Island em vez de seguirem caminho para Moscou. Os descendentes daquele povo muito antiquado e devoto, agora mais conscientes das ameaças contra si, crescem em influência nos “Estados vermelhos” [Estados de maioria republicana], onde eles têm tido muita importância nas recentes eleições nacionais. A animosidade judia para com a cultura cristã, sendo esta profundamente enraizada na maior parte dos Estados Unidos, chega a ser proverbial. Como Joel Kotkin indicou, “ao longo das gerações, a atitude dos judeus americanos em relação aos conservadores religiosos vem combinando sentimentos de medo e desprezo”. E como Elliott Abrams observou, a comunidade judia americana “aferra-se ao que no fundo é uma visão negativa dos Estados Unidos, vistos com terra eivada de antissemitismo, sempre a pique de explodir de raiva contra os judeus”. Essas posturas judaicas de antagonismo podem ser notadas, por exemplo, na acusação que faz Steven Steinlight aos americanos — a vasta maioria da população — que aprovaram as restrições à imigração na legislação dos anos vintes. Diz Steinlight que esses nacionais eram uma “multidão de insensatos”. Quanto às leis de imigração seletiva, afirma que eram “malignas, xenofóbicas, antissemíticas, abjetamente discriminatórias, um vasto fracasso moral, uma política monstruosa”. No final das contas, a visão negativa que os judeus de suas antigas vilas na Europa Oriental tinham em relação aos eslavos e sua cultura, visão que levou tantos judeus a se tornarem agentes testamentários do socialismo internacional, não é muito diferente da visão atual que os judeus dos Estados Unidos têm da maioria dos americanos.
Em 10 de junho de 2021, Anglin fez advertência similar, e suas palavras são a chave de ouro com que eu fecho este ensaio:
Estamos a ponto de assistir a um processo de seleção social em larga escala que se pode comparar a um abate sanitário. Nós temos falado do “genocídio branco” em termos de imigração massiva, feminismo antirreprodutivo etc., mas essa forma de genocídio “frio” está ficando “quente”.
A nossa gente deve estar alerta. Os sinais do perigo estão em toda parte.
Um banho de sangue é iminente.
Fonte: The Occidental Observer. Autor: Edmund Connelly. Título original: Critical Race Theory as a Jewish Intellectual Weapon. Data de publicação: 21 de junho de 2021. Versão brasilesa: Chauke Stephan Filho.