A nação global
20 de julho de 2019
A Idade Moderna, que começou com a chegada de Cristóvão Colombo à América, caracteriza-se pela ligação cada vez maior entre as sociedades do mundo e pela cada vez menor distinção de seus limites. Esse fenômeno vem ganhando intensidade ao longo do tempo com a disparada tecnológica dos meios de transporte e telecomunicação, o que se fez acompanhar de tendências intelectuais em ascensão, como ideologias internacionalistas e antinacionais. Nós podemos definir o globalismo como a inclinação, ao mesmo tempo consciente e inconsciente, para a destruição da diferença e da autonomia das nações e estados, alegadamente em favor de uma sociedade mundial politicamente mais harmoniosa. O globalismo ignora a realidade das diferenças raciais e a poderosa natureza da identidade étnica, fatores que estão na raiz dos conflitos e tensões inevitáveis em toda sociedade multirracial e multiétnica.

Existem elementos materiais vigorosos conducentes à dissolução dos limes nacionais. Ocorrem ganhos de eficiência quando o trabalho e o comércio podem cruzar fronteiras. Há, além disso, bilhões de seres humanos com vontade de deixar as condições miseráveis de onde vivem no Terceiro Mundo e ingressar nos nossos países para gozar vida mais confortável e segura, o que se compreende. Não será pela inércia da situação ou pela nostalgia conservadora que essas pressões poderão ser anuladas. Até o Japão, ainda homogêneo em grande medida, começa a perceber número significativo de imigrantes fenotipicamente diferentes (principalmente indianos e filipinos). Recentemente, aliás, um indiano saiu vitorioso de eleição local em Tóquio. Na verdade, a oposição à imigração exige consciência e doutrina de resistência em nome do bem-estar econômico e social dos nativos, da preservação de sua identidade cultural e genética e da sua soberania.
Depois da II Guerra Mundial, os internacionalistas pretenderam, compreensivelmente, impedir novos conflitos entre os Estados, engajando-os em instituições internacionais (Nações Unidas, União Europeia…) e redes comerciais, sob hegemonia ideológica liberal-democrática. Esperava-se que isso fosse criar uma comunidade de interesses que fizesse da guerra entre as grandes nações uma coisa impensável.
No pós-guerra, os dirigentes que criaram essas instituições internacionais, gente como Dwight Eisenhower ou Konrad Adenauer, não tinham a intenção de destruir suas respectivas nações. Ao contrário, estando cientes dos terríveis massacres das guerras étnicas na Europa Oriental, esses homens geralmente viam a existência de estados-nações distintos e homogêneos como fator de paz. Os inúmeros conflitos étnicos no Terceiro Mundo, na Iugoslávia ou nas antigas repúblicas soviéticas e as intratáveis tensões e confrontações em toda sociedade multirracial levam a crer que eles tinham razão.
Apesar de um ou outro aspecto positivo do internacionalismo depois da Guerra, essa ideologia demudou-se radicalmente num globalismo antinacional explícito. No passado, a ideologia globalista tinha, de forma algo paradoxal, a mediação de elites nacionais. A ideologia de negação da raça, a legislação em pró das minorias, a abertura econômica e, mais fatidicamente, a imigração ilimitada e o multiculturalismo, tudo isso era implementado nas nações ocidentais por elites nacionais particulares em contextos culturais (linguísticos, principalmente) e políticos particulares.
Essas elites nacionais particulares, frequentemente com significativa participação judia, principalmente nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, estiveram na vanguarda dessas políticas. Os mais emblemáticos exemplos disso aí são as figuras de Bill Clinton e Tony Blair. Nos anos noventas, auge do globalismo, eles já estavam preparados psicologicamente para aceitar um mundo sem fronteiras, sem nações (ocidentais) homogêneas e agiam nesse sentido. Depois, alternativamente, outras nações ocidentais também adotaram o globalismo por imitação das primeiras. A Alemanha, especialmente, e a maioria das nações do Sul e Leste europeus importaram as práticas globalistas para que fossem aceitas pelas outras nações ocidentais, por razões econômicas ou geopolíticas, ou simples prestígio ou moda.
Em anos recentes, entretanto, decorreu fato novo: as elites globalistas em cada uma dessas nações desenvolveram mais fortes ligações entre si do que com os países onde residem. No passado, as elites globalistas eram educadas em seu próprio idioma, consumiam sua própria mídia e geralmente trabalhavam em seu próprio país. Agora não é mais assim. Cresce rapidamente uma categoria de gente frequentemente aerotransportada, que se educou no exterior, em universidades de língua inglesa, cujo trabalho internacional exige domínio do inglês (corporações multinacionais, academias, institutos de pesquisa e desenvolvimento, organizações internacionais…), cuja mídia digital é estrangeira (por exemplo, a Netflix, que se alastrou para cerca de duzentos países) e assim por diante. Essa gente está em toda nação da Europa continental, mas grupos psicologicamente análogos existem na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, principalmente nas áreas metropolitanas. Eles formam uma nação dentro da nação.
O proverbial “grupete internacional de apátridas pernósticos” cedeu lugar para uma agregação mais numerosa e cada vez maior de indivíduos desraizados. Na Europa continental, eles se compõem majoritariamente de brancos, mas creio que, nos Estados Unidos, os judeus e asiáticos sejam muito mais numerosos. Essa turma não dança conforme a música do país onde vive. Sua atitude para com os brancos patrióticos do interior, que são dotados de consciência grupal com sentido de identidade, interesse e território, é de medo e ódio. Os globalistas não sentem a mínima empatia com relação aos nacionalistas europeus que tentam preservar sua nação e sua raça, a herança da luta de nossos antepassados, cuja vitória resultou numa evolução autônoma de 50 mil anos.
Essa classe é, na verdade, muito importante. Altamente educada, dedica-se a ocupações de prestígio, bem remuneradas, e exerce grande influência na mídia e na cultura política. Sua existência é o que não me faz sentir muito otimista quanto às perspectivas do Leste e Sul da Europa, apesar do ascenso do nacionalismo nos países dessas regiões.
Ocorre que esses são países de relativamente baixa capacidade organizacional. Isso significa que geralmente oferecem poucos empregos, e empregos de baixa remuneração, seu serviço público é precário, seu desenvolvimento em ciência e tecnologia é fraco, sua influência internacional é limitada, assim como sua capacidade de projetar poder e por aí vai… Eu enalteço o húngaro Viktor Orbán e o italiano Matteo Salvini, porque dão combate à imigração ilegal e tentam elevar a taxa de natalidade de seus países, mas o fato é que os resultados, especialmente quanto à fertilidade, não têm sido dos mais satisfatórios. A Europa Ocidental tem maior taxa de fertilidade, e eu acho que isso não se pode atribuir apenas à imigração, mas também ao fato de lá os jovens pais disporem de mais serviços sociais e ajuda econômica.
Além disso, quase não há indicação de que essas tendências poderão ser contravertidas. A fertilidade do Sul e Centro europeus é tão baixa que entreva seus países. As forces vives dessas zonas, isto é, a parte mais dinâmica e empreendedora da população, sejam simples trabalhadores, sejam doutores e cientistas, emigram para a Europa Ocidental.
Esse conjunto internacionalizado de anglófonos volantes forma como que uma “nação global” em si mesmo. Ainda que fadado a não ser senão pequena e alienada população nos países hospedeiros, ele incrementa o seu número, o seu poder e a interconexão de seus componentes. Sua rede liga Washington, Nova Iorque, o vale do Silício a Londres, a Bruxelas, a Gênova, a Berlim, consolidando verdadeira classe dominante transatlântica.
Curiosamente, o conhecimento da língua inglesa torna esses países mais susceptíveis à influência de ideias raciais mais explícitas, nomeadamente aquelas do mundo anglofônico, principalmente pelos trabalhos de Charles Murray, Philippe J. Rushton, Richard Lynn, Nicholas Wade ou Jared Taylor. É bem digno de nota que o novo chefe de um partido nacional-populista holandês [N. do Trad.: trata-se do Forum voor Democratie (Fórum pela Democracia)], Thierry Baudet, encontrou-se com Jared Taylor e abraçou a herança evolucionária europeia, dizendo: “Nós somos o produto de 300 mil anos de evolução. Nós sobrevivemos à Era do Gelo, nós caçamos mamutes.”
Igualmente notável é a participação do Partido Conservador do Povo (EKRE) no governo da Estônia, com a bandeira de defender os interesses dos “nativos estonianos”. O ministro da Fazenda, Martin Helme (41) já disse, certa feita, que ele queria preservar a “Estônia branca” e que, “se um imigrante fosse negro, deveria ser mandado embora de volta”. Essas palavras ecoam em sua essência os sentimentos de Winston Churchill, para quem, segundo ele mesmo declarou, reservadamente, o seu melhor lema eleitoral seria “Mantenha a Inglaterra branca!”. Em linha com tudo isso, Ruuben Kaalep, dirigente da Juventude do EKRE e agora deputado, mantém relações explícitas com a Alterdireita, havendo se pronunciado seguidas vezes em suas conferências. A consciência étnica dos estonianos remonta a tempos remotos de sua história de conflitos com colonizadores russos. Não se sabe em que medida a Alterdireita anglófona terá influenciado os nacionalistas estonianos a canalizar sua energia etnocêntrica no sentido da criação de uma consciência racial pan-europeia que possa preservar a nossa parte da humanidade.
Há muitas tendências negativas. Nós não podemos nos iludir quanto à gravidade da situação. A onda nacional-populista que percorre o Ocidente dá ânimo mas, por enquanto, é completamente insuficiente para preservar a nossa descendência. A “nação global” chegou para ficar e estará quase sempre contra nós. Entretanto, devemos estar preparados para aproveitar quaisquer oportunidades. Algumas vezes na história, tendências essencialmente negativas podem se converter, dialeticamente, em caminhos inesperados para resultados positivos.
Guillaume Durocher é historiador e articulista do The Occidental Observer. Fonte: The Occidental Observer. Título original em inglês: The Global Nation. Data de publicação do original: 20 de julho de 2019. Tradutor: Chauke Stephan Filho.


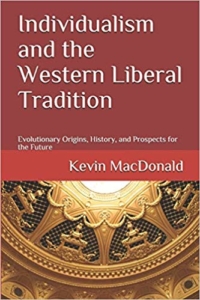



A governing class that disregards the interests of the people cannot last. But it can do a great deal of damage. We are entering into an age of civil disorder, economic chaos and despotism. Only a few with strength and clear vision (and a lot of luck) will survive. It is out of this disorder that a new order will be created — a historical process that has taken place in the past and will repeat itself in the future. The most effective strategy for white nationalists is to mirror what the elites are doing — network, make international connections to other non-Jewish white people, and create the de facto institutions of a rising confederation of white ethnostates free of non-whites and Jews. On the local level, support each other and drop out of the system by boycotting it to the greatest extent possible. I particularly like the idea of supporting each other in the context of a religion. The elites are hesitant to go after churches, at least in the United States. Outside of a church setting, the predictable accusations of racism and anti-Semitism can be lethally effective. But if white nationalism and the exclusion of Jews are intrinsic to your theological viewpoint — well, that’s your religion, and you’re entitled to it under the first amendment to the Constitution.
Por que você não divide o seu texto em parágrafos, Andrew? Isso iria tornar a leitura mais fácil e agradável.