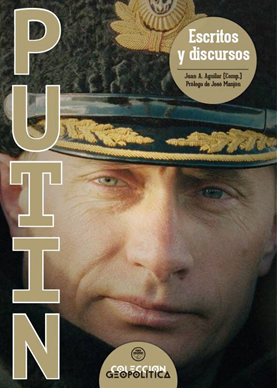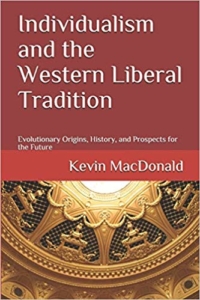O etnonacionalismo consiste num sistema de crenças que afirma a compreensão cristã tradicional das famílias, tribos e nações. O etnonacionalismo sustenta que as nações têm as suas raízes na comum herança genética pela qual se definem, e que os alicerces de uma nação descansam sobre a ancestralidade, a língua, a cultura, a religião e os costumes sociais compartidos.
Quais são os principais fatores responsáveis pela coesão de uma nação? A unidade nacional dependeria mais da comunidade dos genes ou da comunidade das ideias? Na verdade, a palavra “Etnonacionalismo” é redundante. Sabe-se que na língua inglesa a palavra “Nação” tem sido tradicionalmente definida pelo nascimento, não meramente pela geografia ou pelas fronteiras políticas. A palavra “Nação” no inglês tem a ver com natal, ou seja, com o nascimento, como quando se diz, por exemplo, “o setor neonatal de um hospital”. No Natal nós celebramos o nascimento de Cristo. Uma pessoa é nativa da terra do seu nascimento. Então, nesse caso, por que fazer uso dessa palavra redundante que é “Etnonacionalismo”? Por que os defensores do etnonacionalismo não empregamos a palavra mais simples, “Nacionalismo”, para significar “Etnonacionalismo”? Acontece que na história recente tem vindo a prevalecer o conceito de “nação proposicional”. Desta perspectiva, a nação assimila-se a um conjunto de pessoas unidas por uma ideologia comum, por princípios propostos e aceitos, por alguma proposição (daí o nome), ou seja, uma afirmação de diretriz política que sirva de base para a nação, que nesse caso não teria berço na comum ancestralidade. Entretanto, como veremos, a nação proposicional implica erro lógico, trata-se de uma contradição em termos.
As perguntas a que nós, cristãos ortodoxos, devemos responder são estas: com que sentido o vocábulo “Nação” é empregado na Bíblia? Que tipo de nação a Bíblia preconiza? A Bíblia endossa uma definição mais tradicional de nação? Ou a Bíblia promove a ideia de nação proposicional, com a fé cristã sendo a proposição? O meu objetivo é demonstrar que, na verdade, a Bíblia prega o conceito tradicional de nação como agregado de pessoas que compartem uma linhagem comum.
O significado e o uso da palavra “Nação” na Bíblia
A Bíblia foi predominantemente escrita em hebraico e grego. A palavra usada no Novo Testamento em grego e no Velho Testamento da septuaginta é éthnos. Esta palavra é o étimo da nossa palavra inglesa ethnicity e denota os homens de uma linhagem comum. Esta definição é também consistente com o modo como a palavra “Nação” é empregada na Bíblia. Nas Escrituras Sagradas, o conceito de nação está definido exatamente como na sexta edição do Black’s law dictionary: um povo ou agregado de homens organizado em sociedade na forma da lei, geralmente habitando determinado território, de língua, costumes e história comuns, distinto de outros pela origem e características raciais, que geralmente, mas não necessariamente, vive sob um mesmo governo e soberania.
As nações são mencionadas, primeiramente, na Tabela das Nações, constante no capítulo 10 do Gênesis. A Tabela das Nações relaciona a descendência de Noé depois do Dilúvio. Estas nações são listadas segundo a hereditariedade, enquanto ramos de uma árvore que tem Noé como o seu tronco. Tais nações são enumeradas como extensões de famílias (Gênesis 10:5, 20, 31s) e esse uso da palavra “Nação” mantém-se coerente por toda a Bíblia.
Passadas algumas gerações depois do Dilúvio, um homem chamado Ninrode tentou construir um império. Seu reino foi chamado de Babel, e ele uniu diferentes grupos sob sua chefia carismática. Os grupos governados por Ninrode empenharam-se na construção de uma cidade e de uma torre como monumento alusivo ao seu compromisso com a unidade política. Deus tomou conhecimento do empreendimento e proclamou que a sua continuação causaria desmedido mal (Gênesis 11:6). Deus, então, decidiu fazer que a língua dos construtores de Babel se diferenciasse para assim impedir a união deles num mesmo corpo político. Esta é uma passagem forte e demonstra que as divisões e fronteiras nacionais estão de harmonia com a ordem dada por Deus.
Alguns argumentam que a separação das nações terá sido a solução transitória para um problema havido séculos antes e que Cristo teria religado as partes separadas. Essas pessoas, geralmente, veem os limes ou divisões nacionais como um problema que cedo ou tarde será resolvido. Os etnonacionalistas discordam fortemente dessa visão da teleologia ou propósito da raça e das distinções raciais. Os etnonacionalistas afirmam que Deus quis criar raças, tribos, nações e famílias separadas desde o começo e que todos estarão unidos sob Cristo, finalmente. Em razão de as distinções raciais existirem no Céu, fica claro que Deus desejou que existissem para a sua própria glória. Nada na Bíblia indica que a distinção racial ou a identidade racial tenha sido a solução transitória de um problema temporário. Tais distinções, ao contrário, são elemento integral de nossa identidade e persistirão para sempre (Apocalipse: 5:9; 7:9; 21:24; 22:2.) Uma vez que tenhamos estabelecido que nacionalidades separadas existem no Céu e que muitas “nações entre elas foram salvas”, torna-se evidente que a raça possui importância intrínseca. Não estamos mais impedidos de dizer que os nossos corpos ressurrectos não terão diferenças de raça do que de dizer que eles não terão diferenças de sexo.
Orgulho racial, lealdade e responsabilidade
Muitos cristãos brancos pensam que o orgulho racial seja alguma coisa intrinsecamente errada ou maligna. Eles acham que só podemos nos ufanar da condição de seguidores de Cristo. Num certo sentido, isso é verdade. O apóstolo Paulo considerava que qualquer bem ou honra que ele pudesse desejar não passaria de “merda” em comparação com a “excelsitude do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor” (Filipenses 3:4-8), sua origem étnica, inclusive! Importa muito notar que Paulo usa aí uma linguagem hiperbólica. O apóstolo está dizendo que todo o nosso ser e o nosso ter não vale nada diante da santidade de Jesus Cristo! Importa ressaltar também que Paulo está, nessa passagem, comparando a própria santidade com a santidade de Cristo. Nesse sentido é que nada em nós importa para a salvação. Somos salvos apenas por mérito de Cristo. O próprio Cristo quer que nossa lealdade a Ele prevaleça sobre nossa lealdade a nossos cônjuges e demais familiares (Mateus 19:29; Marcus 10:30)! Seria grave erro, entretanto, concluir daí que a ancestralidade ou o próprio casamento não tem importância.
Com efeito, o próprio apóstolo Paulo, que dirigiu essas palavras aos filipenses, também disse que ele “desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel” (Romanos 9:3). Na nova edição internacional da Bíblia, a referência explícita à “raça” foi substituída pela expressão “irmãos segundo a carne”. Existe aí uma clara e desinibida manifestação de orgulho e lealdade raciais. Sem nenhuma ambiguidade, Paulo mostra solidariedade para com o seu povo, mesmo em se tratando de gente infiel! O devotamento de Paulo ao seu trabalho missionário pelos não israelitas não o impediu de assumir seu natural afeto pelo seu próprio povo. Se para Paulo foi lícito expressar o seu compromisso com o bem-estar da sua própria gente, por que a mesma manifestação de solidariedade racial não se permite aos brancos? Os brancos que demonstram solidariedade entre si são, geralmente, discriminados, mesmo quando não há da parte deles nenhuma animosidade contra pessoas de outras raças. Esse sentimento de afinidade, simpatia ou amor ligando alguém ao povo de sua pertença não se deve limitar a foro íntimo, ao âmbito pessoal das preocupações e afetos motivados por anseios de solidariedade endoétnica, devendo, ao contrário, ganhar expressão pública na prática das ações e na assunção de responsabilidades políticas.
Atualmente, entretanto, são muitos os que não acreditam nem sequer nas responsabilidades ou obrigações familiares. Isto não deve ser assim! O apóstolo Paulo disse a seu discípulo Timóteo que “Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua família, é um renegado, pior do que um infiel” (1 Timóteo 5:8). O substantivo “seus”, certamente, não pode ser interpretado como significando o que, hoje, denotaríamos pela palavra “Raça”. “Seus”, em vez disso, significa ali a família extensa, cujo centro está no domicílio, na família nuclear. Paulo está ensinando que as pessoas têm obrigações familiares que se expandem em círculos concêntricos de lealdade. Nossas responsabilidades para com a humanidade em geral são muito menores do que as responsabilidades que temos para com aqueles no nosso lar ou socialmente próximo dele. Isto demonstra, novamente, a importância da família, do clã, da tribo, da nação e da raça no modelo societal bíblico.
O propósito das distinções nacionais
O propósito de Deus atribuído às diferentes nações será tratado mais detalhadamente em outros artigos. Aqui veremos bem por cima, e rapidamente, a questão do propósito a que serve cada nação. A primeira observação que devemos considerar é que a distinção nacional de base hereditária já existia quando Babel estava em construção. Temos certa referência cronológica na Tabela das Nações: a divisão de Babel teve lugar ainda ao tempo de Pelegue (Gênesis 10:25). Pelegue é da quarta geração de Sem e da quinta geração de Noé. Podemos concluir, então, que a identidade nacional já tinha raízes nos filhos de Noé e na sua descendência, e que a divisão de Babel não era disposição nova ou inovadora mas, antes, a reafirmação de uma preexistente estrutura social que volve atrás no passado até, pelo menos, o tempo do Dilúvio. Deus confundiu as línguas como expediente adicional para a manutenção das distinções nacionais. As nações não foram criadas aí, elas já existiam antes disso! Muitas gerações das nações listadas no capítulo 10 do Gênese tinham-se passado antes da construção da Torre de Babel, e Deus estava protegendo a identidade singular de cada nação anterior a Babel. Certamente, Babel foi castigo para a expiação de pecados, mas também foi ato piedoso de Deus para atalhar a marcha do mal nas sociedades cosmopolitas esquecidas de sua identidade tribal. As sociedades sem consciência racial ou tribal caem em decadência devido ao anonimato e à perda da autoridade patriarcal, corolário inevitável desse tipo de regime. Quando os ancestrais são esquecidos, aqueles que se esquecem deles também se esquecerão dos próprios descendentes.
Em Deuteronômio 32:8, lemos que as nações foram apartadas por ato especial da providência de Deus. Ali está escrito que o Altíssimo dividiu as nações, a sua herança para elas e separou os filhos de Adão e, ainda, que Deus estabeleceu os limes das nações. A divisão da herança de Deus entre as várias nações é positivo e intencional trabalho da providência de Deus. Isso significa que a separação das nações não apenas teve a aprovação de Deus, mas também que Ele o fez a bem da própria criatura humana.
Outra passagem fundamental sobre os propósitos das distinções nacionais e sua conveniência encontra-se em Atos 17:26s. Neste trecho, lemos que Deus fez de um só sangue (presumível referência, de novo, a Adão) todas as nações: “E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação; para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar; ainda que não está longe de cada um de nós”. Vale ressaltar que os cristãos tradicionais têm a convicção de que toda a humanidade descenda de Adão e Eva, em vista de que Eva é referida como “a mãe de todos os viventes” (Gênesis 3:20). Os detratores do etnonacionalismo pintam um alvo na testa de todo etnonacionalista, alegando que os etnonacionalistas não afirmam a unidade dos homens sob Adão como representante humano. Ora, foi pela unidade da aliança que o pecado original se transferiu para toda a humanidade (Romanos 5:12). Ocorre que a comum descendência de Adão não muda o fato de que Deus separou as nações e indicou suas respectivas obrigações e lugares de habitação. Notar que o versículo 27 revela a razão de Deus ter feito isso. Deus assim fez para que o homem o buscasse e encontrasse! Importa observar que ninguém se encontra com Deus por uma questão de sua habilidade natural (1 Coríntios 2:14), mas é claro que Deus usa as distintas nações como instrumentos para operar a salvação por sua soberana vontade, da mesma forma como Ele se serve de cônjuges fidos para santificar e redimir seus infidos maridos ou mulheres (1 Coríntios 7:14).
Algumas pessoas argumentam que esse propósito das distinções nacionais tenha sido transitório e que essas distinções devieram obscurecidas ou foram superadas pela descida do Espírito Santo no Pentecostes, conforme referido em Atos 2. O problema com essa interpretação é que ela não condiz com a narrativa. Se, no Pentecostes, tivera Deus pretendido reunir o povo num só corpo político, então todos ali voltariam a falar numa só língua, o que seria condição favorável à sua unidade. Ao contrário disso, lemos que Deus fez que o apóstolo Pedro pregasse na língua daqueles que o ouviam! Importa apontar, também, que as pessoas reunidas no Pentecostes eram piedosos israelitas chegados a Jerusalém das diferentes regiões onde residiam. Pentecostes não foi um evento que se possa comparar a uma assembleia das Nações Unidas. O povo presente ali era bastante homogêneo etnicamente. Além disso, Pentecostes foi o batismo de Babel. O Dr. Francis Nigel Lee [1934-2011], no seu Race, people and nationality, explica bastante concisamente a relação entre Babel e Pentecostes:
Pentecostes consagra a legitimidade da separação das nacionalidades ao invés de reprová-la. Com efeito, mesmo no advento da nova terra depois da segunda vinda de Cristo, é-nos dito que aqueles das nações que forem salvas caminharão à luz da Jerusalém celestial, e que os reis da Terra levarão a glória e a honra — os tesouros culturais — de suas nações para ela… Mas não há em nenhum lugar das Escrituras nenhuma indicação de que os povos devam ser amalgamados numa só grande nação.
Qual, então, será o destino das nacionalidades separadas, como diz o Prof. Lee? As nações separadas estariam destinadas à “fusão” pela difusão do Evangelho? Ou as nacionalidades separadas persistirão? Os etnonacionalistas estamos convencidos de que as nacionalidades separadas manter-se-ão separadas até mesmo na próxima vida sob os novos céus da nova terra. Nós lemos mais sobre isso no Apocalipse de João, quando ele escreve que “E as nações dos salvos andarão à sua luz [da Jerusalém celestial]; e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra” (Apocalipse 21:24). O apóstolo João lobriga também cristãos de todo clã, tribo, povo e nação no céu (Apocalipse 5:9: 7:9), revelando que “no meio da sua praça […] estava a árvore da vida […]; e as folhas da árvore são para a saúde das nações” (Apocalipse 22:2). Na Igreja, pois — e não nos deve faltar coragem para afirmá-lo — há distintas e separadas nações. Quando alguém se torna cristão, conserva sua identidade étnica e sua identidade racial. Estes atributos não são perdidos em Cristo, ao contrário: são legitimados e santificados da mesma forma como são santificados ambos os sexos na distinção de sua identidade no seio da família e da Igreja. Que papel cumprem as nações numa sociedade cristã? Esta questão encontra-se na base da tradicional compreensão cristã da ordem social.
O papel da nacionalidade
[No artigo “A família de Deus”], J. C. Ryle escreveu que “a comunidade de sangue é a de mais forte coesão”. No Deuteronômio 23, Israel recebe as leis sobre quem pode ser integrado na congregação do Senhor. A congregação do Senhor significa, provavelmente, a igreja nacional de Israel. Importa frisar que a assimilação leva em conta como critérios de sua possibilidade a hereditariedade e a história. Os moabitas e os amonitas são completamente excluídos por causa de sua má história com os filhos de Israel, enquanto estes assimilam mais facilmente o Egito por sua condição de estranhos na terra dos faraós. Edom e Israel foram nações que tiveram uma história “complicada”, para dizer o mínimo. Mas os edomitas assimilam-se facilmente à congregação israelita em razão da consanguinidade, porquanto ambos os povos descendem do patriarca Isaque. Daí a referência a Edom como o irmão de Israel (Deuteronômio 23:7; Números 20:14). A importância da consanguinidade que se ensina nessa passagem mereceu a devida ênfase do renomado biblicista Matthew Henry, que sobre isso escreveu: “Por causa dessa relação de leis, embora muitos não a aceitam bem, a falta de bondade nas relações pessoais deve ser perdoada” (Complete commentary on the whole Bible — Deuteronômio 23:1-8).
A identidade étnica consiste numa forma de extensão da família. A Bíblia não endossa a noção de uma nação proposicional consistente mais nas ideias do que na linhagem. Israel é a nação que serve de exemplo, e a voz de Deus chama as demais nações para segui-lo (Deuteronômio 4:5-7). O que se preconiza aí é que todas as nações, à semelhança de Israel, devam ser identificadas por critérios hereditários, ou seja, pela linhagem de seu povo. O modo mais fácil de entender a nação no sentido mais apropriado é considerá-la como uma família ampliada. O antigo Israel compunha-se de doze tribos originárias do seu patriarca Jacó, as quais eram identificadas pelas famílias de que se formavam. Os primeiros oito capítulos do 1 Crônicas são dedicados a listar as famílias das tribos, porque “todo o Israel foi contado por genealogias” (Números 1-4; 1 Crônicas 1-8; 9:1).
Os não israelitas eram chamados de estrangeiros ou viajores e deviam ser tratados justa e gentilmente (Êxodo 12:48s; 22:21; 23:9; Levítico 23:22; 24:22; Números 9:14; 15:15s, 29s). A melhor ideia que se pode fazer desses ádvenas é considerá-los como hóspedes convidados a uma casa. Enquanto hóspedes, deviam ser recebidos com as maiores gentilezas, mas não poderiam se adonar de nada do seu anfitrião. Aliás, o afluxo descontrolado de estrangeiros para minar as suas forças e consumir as suas riquezas é como Deus promete castigar a impenitência de Israel (Deuteronômio 28:32-36). Nas atuais circunstâncias dos Estados Unidos, esse medonho castigo parece estar sendo aplicado aos anglo-saxões. Até os pretos poderão perder o seu lugar nos Estados Unidos por sua infidelidade ao Evangelho, por força dessa mesma passagem bíblica, conforme a curiosa interpretação do Rev. Jesse Lee Peterson. A afinidade dada pelas relações de sangue são de interesse tanto para o governo da sociedade quanto para o direito de propriedade, porquanto só os israelitas podiam dispor da terra em caráter permanente, a qual era dividida conforme a identidade tribal.
O princípio do mando patriarcal
A Bíblia coloca a autoridade familiar na mão dos maridos e dos pais.25 Samuel Rutherford, em Lex, rex (Q.XIII, pp. 51-52), escreveu:
O pátrio poder, por ter sido a primeira forma de governo e modelo para todas as outras, certamente consiste na modalidade superior de exercício cracial; porque é melhor que o meu pai me governe do que o faça um estranho e, por isso, o Senhor proibiu o seu povo de ter acima de si um estrangeiro como o seu rei. O Prelado discorda […], o pai [de um homem, entretanto,] nasceu para estar na obediência somente de seu próprio pai, por isso […] o governo natural não é senão o do pai e do marido.
Isso é considerado “racista”, “sexista” ou “chovinista” pelos padrões atuais, mas Deus não costuma dar muita importância à opinião dos homens! Sobre a autoridade e chefia do homem como também sobre a autoridade dos pais, confira as passagens seguintes: Gênesis 2:18; 3:16; Êxodo 20:12 (compare com Deuteronômio 5:16), Números 30; Isaías 3:16-24; 1 Coríntios 11:7-12; 14:34s; Efésios 5: 22-33; Colossenses 3: 18-21; 1 Timóteo 2: 9-15; Tito 2: 1-8; e Pedro 3: 1-7. Na Bíblia, a autoridade civil é uma extensão natural da autoridade familiar. O texto na base dessa posição está em Deuteronômio 17:15, determinando que Israel terá por rei sempre alguém dos seus homens, acima de quem só um irmão deles poderá estar, nunca um estrangeiro. Importa considerar que, na Bíblia, “irmãos” nem sempre significa cristãos. Disto temos exemplos em Números 20:14, Deuteronômio 1:16; 23:7, 2 Reis 10:13-14, Neemias 5:7, Jeremias 34:9 e Romanos 9:3, passagens nas quais essa palavra tem sentido étnico dado pela identidade de Israel. [John] Gill mostra, no seu Exposição da Bíblia, que o rei é irmão de Israel pela nação e pela religião, não só, exclusivamente, pela religião. Keil e Delitzsch, no seu Commentary on de Old Testament, indicam que o rei não é um forâneo ou não israelita. Com base em Deuteronômio 17:15, [John] Knox, em seu combativo The first blast of the trumpet against the monstrous regiment of women [O primeiro toque da trombeta contra o monstruoso governo das mulheres], sugere que todas as mulheres e os estrangeiros estavam excluídos. Não é demais repetir que não podemos tomar os estranhos ou estrangeiros referidos como se todos fossem necessariamente infiéis. Disso temos exemplo em Isaías 56:3, passagem que afirma a possibilidade da aliança de Deus com forâneos. Também Samuel Rutherford toma Deuteronômio 17:15 como texto fundamental para a sua obra magna sobre o governo civil na qual ele comenta que “o rei é alguém da família” (Lex, rex, QXXV, pp.120-124). Eu diria, também, que os estrangeiros poderiam ser circuncidados (Êxodo 12:48), mas, ainda assim, não se confundiam com os filhos de Israel (Números 11:4), tampouco eram admitidos na magistratura (Deuteronômio 1:13-16; 17:15). A nação de Israel assentava-se na hereditariedade (Deuteronômio 15:12; 23:7; Números 20:14; Levítico 18:26; 22:18). Levítico 18:26 é especialmente revelador, porque aponta como os guardiães das leis de Deus aqueles da nação (éthnos) israelita e os estranhos (não israelitas) que habitavam entre eles. Este é um exemplo cabal de que a nação de Israel compunha-se pela hereditariedade, não apenas pela adesão convencional ou espiritual.
Há outras passagens semelhantes no livro de Samuel Rutherford que confirmam a natureza familial da autoridade civil. Os reis e rainhas são referidos como pais e mães. Outros trechos bíblicos desse mesmo teor: 2 Samuel 5:1 e 1 Crônicas 11:1, nos quais as tribos de Israel confirmam a legitimidade de Davi como postulante ao governo por serem elas da “carne e sangue” de Davi. As referências à carne, ao sangue indicam certa correlação dada pela hereditariedade, a qual não se aplicava a todos. Os chefes deviam ter com os seus subordinados afinidade de sangue, o que parece corresponder ao que diz Moisés em Deuteronômio 1:13-16 e 17:15. Isto estabelece o princípio básico para o governo das nações, conforme Eclesiástico 17:17.
(Ressalvemos que, como se sabe, o Eclesiástico é livro deuterocanônico. O ensino tradicional sobre o deuterocânon diz que os seus livros não são divinamente inspirados, acrescentando, não obstante, que sua leitura será de proveito para a edificação dos cristãos, como também que esses livros devem ser lidos à luz dos livros do primeiro cânon. Cristo e os apóstolos conheciam muito bem o deuterocânon, a cuja literatura o Novo Testamento faz muitas referências.)
Voltando à vaca fria: essa correlação de carne e sangue é a mesma que a Bíblia determina como regra para o casamento (Gênesis 2:23). Deus criou a mulher para ser a “auxiliadora” do seu marido, o que se cumpre da melhor forma pela relação de carne e osso de Adão e Eva. O intercasamento, ou seja, o casamento inter-racial, ao ligar cônjuges de distantes nações, quebra essa regra mencionada em Gênesis 2:23s para o casamento e o faz de forma análoga à poligamia e ao casamento entre pessoas de idades muito diferentes, que também transgridem a norma do casamento dada pelo exemplo de Adão e Eva. Menções negativas ao miscigenismo constam das passagens seguintes da Bíblia: Esdras 9:2; Jeremias 25:20; 24; 50:37; Ezequiel 30:5 e Daniel 2:43. Nesse mesmo sentido, Abraão, Isaque, Manoá e Tobias aconselham os seus filhos a não se casarem com pessoas de outros povos (cf. Gênesis 24:1-4, 37, 41; 26:34s; 27:46; 28:1s; 29:14; Juízes 14:3;Tobias 4:12).
Considerações de natureza civil também pesaram contra o casamento com gente dos povos que eram inimigos de Israel. A lei constante no Deuteronômio 23:1-8 era aplicada por Esdras e Neemias no intento de impedir casamentos com aqueles interessados no dano de Israel (Esdras 10 e Neemias 13 sobre a aplicação da lei do Deuteronômio 23). As razões práticas para o que reza o Deuteronômio 17:15 são óbvias. Se um estranho governa uma nação, ele buscará, naturalmente, expropriar o numerário e as propriedades do povo nativo para com essas riquezas beneficiar aqueles de sua própria carne e osso. Isto se aplica tanto a cristãos quanto a não cristãos, porquanto muitas nações sempre existirão na Igreja, mesmo no céu (Apocalipse 21:24). Pode haver exceções a esta regra. Deus usou José, por algum tempo, como o sábio regente a serviço do faraó no Egito (Gênesis 39:4-6), e o rei Ciro, por meio da promulgação de justo decreto, permitiu que os israelitas voltassem à sua pátria sob a proteção dele (2 Crônicas 36:22s). Estes casos são as exceções da regra e mostram um Deus que faz das tripas coração numa situação muito aquém da ideal.
A propriedade tribal
A Bíblia promove a propriedade privada. Isto é consubstancial ao mandamento contra o roubo (Êxodo 20:15; Deuteronômio 5:19). Deus é o verdadeiro e devido senhor de tudo quanto existe (Salmos 24:1), mas Ele delegou a zeladoria da criação para que a humanidade tivesse o domínio sobre todas as coisas criadas (Gênesis 1:28ss). Parte deste domínio executa-se por meio da propriedade privada. Deus dividiu a terra habitável entre diferentes nações (Deuteronômio 32:8 e Atos 17:26). Deus espera que as fronteiras que Ele estabeleceu sejam reconhecidas e respeitadas (Provérbios 22:28 e Deuteronômio 27:17). Isto não significa que as fronteiras políticas nunca devam mudar. Um bom exemplo foi o cisma político que dividiu a nação de Israel em dois reinos separados — Israel e Judá, depois da morte do rei Salomão. O fato da instabilidade dos limes políticos ao longo do tempo não anula o princípio e a relevância das fronteiras em geral sob a vontade de Deus.
A lei de Deus também provê Israel com a disposição de que a propriedade permanecesse com as famílias e clãs. O primogênito de cada família era o primeiro herdeiro das terras e outros bens de seu pai (Números 3) e, pois, tornar-se-ia o chefe da casa paterna depois da morte do progenitor, arcando também com os deveres de cuidado para com os seus familiares. Este é o conhecido direito da primogenitura e era praticado por injunção legal nas sociedades europeias até recentemente. Na falta de um herdeiro masculino, o marido mais velho de alguma das filhas seria o herdeiro do patrimônio. E se o esse genro fosse de outra tribo ou clã? Neste caso não ficaria fácil transferir o legado de uma família ou tribo para outra? Sim, ficaria, e justamente para evitar que isso acontecesse Deus prescreveu que as herdeiras se casassem com homens da tribo de seus pais (Números 27:1-11; 36). Seja lembrado que Israel foi-nos dado como exemplo do modo como as nações devem ordenar as suas sociedades (Deuteronômio 4:5-7). Fica claro, pois, que Deus zela pela herança física e na lei divina há cláusulas de proteção contra o esbanjamento ou a dissipação total ante o risco de propostas ou condições financeiras em circunstâncias adversas. A Bíblia promove o nacionalismo econômico, pelo que autoriza a tributação dos negócios de estrangeiros com os israelitas, como também instaura as leis do Jubileu, por força das quais as propriedades perdidas são recuperadas, e as dívidas, perdoadas, e os escravos, libertados (Levítico 25). Bem ao contrário disso e conforme a mentalidade nas condições da “economia global”, os banqueiros internacionais e os grandes negociantes buscam o lucro quando mesmo em prejuízo do bem-estar de seus compatriotas e até da própria família!
Essa questão remete à figura de Nabote, um dos melhores exemplos bíblicos de fidelidade à herança familiar. O rei Acabe ofereceu vultosa soma pela vinha de Nabote que ele tanto cobiçava. Nabote recusou a proposta, dizendo-lhe: “O SENHOR me livre de te ceder a herança dos meus antepassados” (1 Reis 21:3). Nabote expressa aí, claramente, que a sua lealdade a seus ancestrais é mais forte do que o seu interesse em ganhos imediatos. A ironia no laissez-faire capitalista é que, na ânsia do enriquecimento rápido, a mercancia da terra redunda na concentração de riqueza nas mãos de uma minoria de privilegiados no mundo dos negócios. As sociedades que negligenciam a sabedoria bíblica sofrem as consequência desse erro no desbarato de sua herança!
Os impérios e a nacionalidade proposicional
O princípio do governo parentelar e da propriedade tribal tem contra si a existência dos impérios. Um império é o reino que se estende sobre diversas tribos, nações e povos. A nacionalidade proposicional tem sua origem nos impérios. A primeira tentativa de construção de um império de que se tem registro é a de Ninrode na cidade de Babel, suso mencionada. O profeta Daniel também refere uma série de impérios que dominariam o mundo mediterrânico (Daniel 2; 7). Os impérios, geralmente, têm vida relativamente curta e são mantidos por meio de um poder militar agressivo (Daniel 2:37-40; 7:19). Os impérios são uma paródia do reino espiritual de Cristo. O império crístico, este sim, expandir-se-á até abarcar todas as nações e povos (Daniel 2:44; 7:13s; Apocalipse 5:9; 7:9), instaurando-se pacificamente pelo ministério do Espírito Santo, nunca pelo emprego de força militar (João 18:36).
Os Estados Unidos, tradicionalmente, não eram vistos como uma “nação proposicional” até recentemente na história. John Jay, o primeiro ministro da Justiça e coautor dos Federalist Papers, escreveu sobre a fundação dos Estados Unidos:
Com o mesmo prazer tenho observado muitas vezes que a Providência se agradou de nos dar um país integrado e um povo unido — um povo descendente dos mesmos ancestrais, falando a mesma língua, professando a mesma religião, aderente aos mesmos princípios de governo, muito similar em seus usos e costumes, e que por meio de suas assembleias, suas armas e esforços, lutando lado a lado numa longa e sangrenta guerra, nobremente estabeleceu a liberdade e a independência gerais (John Jay. Federalist Number 2).
Caso o leitor não saiba, com a frase “descendente dos mesmos ancestrais” John Jay refere-se àqueles americanos de origem europeia; e pela expressão “a mesma religião” ele quis dizer que os americanos professavam o cristianismo.
O problema subjacente às nações proposicionais é que elas sofrem conflitos internos devido às diferentes interpretações de suas proposições. Tomemos os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos são tidos por país proposicional unido na obediência a certos “valores”, como a “liberdade”, a “democracia” ou — este é o meu favorito: a decantada “tolerância”. Quem entende esses conceitos da mesma forma? Ninguém! Por isso é que os ciclos eleitorais não passam de acirrados debates sobre “valores” indefinidos e carentes de sentido. Os Estados Unidos vêm caindo na condição degenerada de nação proposicional nas últimas décadas, mas não foram a primeira nação proposicional a existir. O historiador greco-romano Públio Élio Aristides escreveu sobre a cidadania universal romana, extensivamente, qualificando-a como ferramenta para a preservação do domínio sobre os povos submetidos ao império. Sobre isso, disse ele:
O mais notável e louvável de tudo é a grandeza de vossa concepção de cidadania. Não há nada de comparável no mundo. Vós haveis dividido toda a população do império — e ao dizer isso eu me refiro à população do mundo inteiro — em duas partes; numa parte, estão aqueles mais cultos, virtuosos e capazes de todo lugar, que vós fizestes cidadãos e nacionais de Roma… Nessa categoria, nenhuma distância no mar ou na terra afasta um homem da cidadania. A Ásia e a Europa não se distinguem em relação a tal questão. Tudo está aberto para todos; e ninguém com a competência para um cargo ou responsabilidade se conta entre os alheios. Para esses, Roma nunca disse “não há mais vaga!”.
Na outra parte, na parte dos não contemplados, entre aqueles que permanecem estrangeiros, ninguém merece confiança ou alguma função pública. O que existe aí é uma espécie de “democracia mundial” para os mais ricos e poderosos, restando os demais sob o governo ou direção de um maioral… Vós separastes a humanidade entre romanos e não romanos… e por causa da divisão assim estabelecida, em toda cidade por todo o império há muitos forâneos que compartilham a cidadania convosco não menos do que com a mesma gente deles. E alguns desses cidadãos romanos em nenhuma vez nem sequer pisaram Roma.
Parece familiar? Essa descrição assusta por corresponder ao que se passa hoje nos Estados Unidos quanto às políticas de imigração e naturalização! No ano 212 d.C., o imperador Caracala estendeu a cidadania romana para todos os homens livres do império, da Britânia à Arábia, conforme a chamada Constituição Antonina. Quando os americanos promovem o conceito de nação proposicional na tentativa de “dar segurança para a democracia no mundo”, incorremos no erro de decalcar os piores aspectos da Roma pagã que tentou impor uma “democracia global” sob o domínio de um homem. A presente política religiosa dos Estados Unidos corresponde à mesma política desse tipo adotada na Roma imperialista. O mesmo é dizer que todas as religiões são toleradas, desde que obedientes ao Estado, mas Cristo não aceita rivais em matéria de religião (Mateus 12:30). Em Roma, César deve ser adorado como Deus, quaisquer sejam outros deuses que cada um possa adorar, e nos Estados Unidos atuais nós olhamos para o Estado assim como faziam os romanos, dele esperando a satisfação das nossas necessidades e mais comodidades.
Os Estados Unidos foram fundados segundo o modelo romano de um império proposicional? Ou foram fundados como nação bíblica radicada na história, na tradição, na consanguinidade e na fé cristã? Os Estados Unidos foram fundados pelos colonos na Virgínia e pelos peregrinos em Massachússetes como nação bíblica. No selo da carta da Companhia da Virgínia constava a imagem do rei inglês James I. Os peregrinos do Mayflower referiam-se a si mesmos como “súditos leais de nosso venerando senhor Rei James”, ou seja, eles se viam mais como súditos ingleses do que como cristãos sem soberano reconhecido a que devessem obediência no mundo. O presidente George Washington tratou de assegurar que a imigração e a naturalização estivessem restritas àqueles de “gente livre, branca e boa”. Não por acaso, a lei de naturalização de 1790 foi a primeira da política constitucional. Houvéssemos acatado a experiência e a sabedoria dos americanos das gerações passadas, não haveria religiões não cristãs ou anticristãs aqui nos Estados Unidos. O imperialismo e o marxismo cultural seguem abolindo as nossas fronteiras, em alguns casos já sem sentido, e suas leis substituem a lei de Deus como fonte da nossa política. Não evitaremos que recaia sobre nós o castigo de Deus prometido àqueles que desrespeitassem a sua lei e os seus preceitos (Deuteronômio 28:43s).
A defesa do etnonacionalismo
A esta altura, deve estar claro que não existe alternativa a não ser abraçar o etnonacionalismo, conforme estabelecido na Bíblia como a norma. A Europa deveio grandiosa pelo acatamento à lei de Deus em todas as coisas, no que se inclui o etnonacionalismo. Nós nos afastamos para longe da civilização que era a nossa e que prevalecia de forma tão evidente até algumas décadas atrás. Durante os anos sessentas, o marxismo cultural engendrou o chamado “movimento dos direitos civis”, que instilou na sociedade a ideia abíblica dos “direitos iguais”, levando-nos à subversão da lei de Deus.
Como cristãos que somos, temos o dever moral de defender a ordem divina ameaçada em nossas vidas, famílias e sociedades. A Bíblia mostra-nos, claramente, que as nações devem estar ligadas pelos laços naturais do sangue e do solo. Devemos rejeitar as doutrinas que rejeitam a noção cristã do etnonacionalismo presente nas Escrituras Sagradas. Não foi por coincidência que rejeitamos a base cristã da identidade nacional quando, simultaneamente, rejeitamos a doutrina cristã sobre o casamento, os papéis sexuais e a moralidade. A refutação do etnonacionalismo não é mais do que um sintoma da refutação da própria lei de Deus na sua integridade. Fico triste de reconhecer que, em muitos casos, cristãos professos fazem exatamente isso.
A fundação da nação bíblica como definida na Tabela das Nações tem por base a comum ancestralidade, a comum religião, a comum história e costumes comuns, o que torna possível a mútua partilha de ideias e valores, condição sem a qual uma nação não passará de abstração jurídico-administrativa. Nos Estados Unidos, cometemos o erro que os romanos cometeram antes de nós e podemos não escapar do desastroso destino que foi o deles. Os cristãos europeus, legatários da Civilização Ocidental, estamos numa encruzilhada histórica. Ou continuamos no caminho insensato de nossos antecessores da Roma pagã até o abismo que a tragou, ou revivificamos o espírito do nacionalismo cristão, que tantas vezes livrou o Ocidente da ruína e preservou a sua civilização por muitas gerações dos povos europeus. A salvação está em retornar ao caminho reto antes palmilhado pela nossa gente (Jeremias 6:16) e de novo abraçar o Deus de nossos maiores. Só o Altíssimo pode reconstruir nossas cidades e revestir de carne os ossos secos de nossos avoengos (Ezequiel 37). Enfrentemos o futuro com otimismo, na esperança de que Deus resgate aqueles que perseveram na fé e reconstrua, mais uma vez, as ruínas onde agora habitamos (Isaías 1:9).
_____________________
Fonte: Faith & Heritage. Autor: Davis Carlton. Título original: A biblical defense of ethno-nationalism. Data de publicação: 19 de janeiro de 2011. Versão brasilesa: Chauke Stephan Filho.
 Elon Musk no X: “Que caminho a IA deve seguir? Ela deve buscar a verdade (xAI)?
Elon Musk no X: “Que caminho a IA deve seguir? Ela deve buscar a verdade (xAI)?