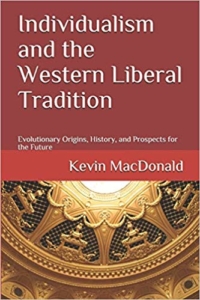INDIVIDUALISMO E
TRADIZIONE PROGRESSISTA OCCIDENTALE.
Origini evolutive, storia e prospettive future.
traduzione italiana di Marco Marchetti
La conclusione del capitolo precedente è stata che la Chiesa medievale pose le basi della fine della propria egemonia promuovendo, almeno in una certa misura, il primato della coscienza nella fede religiosa, cosa che alla fine creò le basi teologiche della Riforma protestante.
In questo capitolo mi propongo di discutere il puritanesimo quale movimento protestante particolarmente importante, non solo per la storia britannica, ma anche per quella degli Stati Uniti, dove un’élite di origine puritana ha dominato il discorso intellettuale e le università della Ivy League, come pure il sistema giuridico, politico e commerciale fino all’ascesa di una nuova élite. Questa nuova élite era influente già nei primi decenni del XX secolo, ma la sua influenza si ampliò considerevolmente nel secondo dopoguerra ed aumentò moltissimo dopo il 1965.
La Guerra Civile Inglese della metà del XVII secolo, che diede inizio all’influenza della cultura puritana sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, va dunque considerata un punto di svolta nella storia dell’Occidente, un evento spartiacque che alla fine pose termine al dominio delle strutture sociali di derivazione sostanzialmente IE che avevano dominato il paesaggio politico dell’Europa occidentale da tempi immemorabili.
Comunque, sebbene il protestantesimo sia stato reso possibile in ultima analisi dall’individualismo occidentale, il puritanesimo in sé, tanto in teoria quanto, per un considerevole periodo di tempo, nella pratica, fu fortemente collettivista. Le distinzioni tra gli appartenenti al gruppo e gli estranei furono assai rilevanti e all’interno del gruppo veniva esercitato un forte controllo sul pensiero e sul comportamento. In altre parole, alle sue origini il puritanesimo fu una strategia evolutiva di gruppo.
Il puritanesimo come strategia evolutiva di gruppo.
Il puritanesimo ebbe la sua origine nell’East Anglia, che al principio del Medioevo venne colonizzata soprattutto dagli Angli1. Questi produssero «una cultura civile fatta di elevata alfabetizzazione, di riunioni tra cittadini e di una tradizione di libertà», distinguendosi dagli altri gruppi britannici per «il numero relativamente più ampio di uomini liberi in rapporto a quello dei servi e dei villani»2. Come osservato nel capitolo 4, questa regione, a differenza dell’Inghilterra centrale, non venne feudalizzata, ma fu piuttosto costituita da piccole proprietà, con famiglie congiunte facenti capo a maschi fratelli. Di conseguenza gli abitanti dell’East Anglia non prestavano i loro servigi a un signore e avevano una libertà individuale relativamente più grande. Si potrebbe supporre che questo abbia avuto come risultato una tendenza, da parte di tale popolazione, alle «insurrezioni contro il potere arbitrario»: le sollevazioni e ribellioni del 1831 guidate da Jack Straw, Wat Tyler e John Ball, la ribellione di Clarence nel 1477 e quella di Robert Kett nel 1548 sono tutti episodi che precedettero l’ascesa del puritanesimo. Il presidente John Adams apprezzava l’eredità di «autodeterminazione, libero suffragio maschile e contratto sociale consensuale» dell’East Anglia3.
Questo porre l’accento su un relativo egualitarismo e su un governo consensuale e democratico è una tendenza caratteristica delle popolazioni dell’Europa nordoccidentale4. Nello stesso tempo vi era un elevato livello di coesione interna al gruppo resa possibile dalla grande importanza attribuita alla conformità culturale (p. es. tramite le punizione dell’eresia religiosa) e alla regolamentazione pubblica del comportamento personale attraverso il controllo sociale sull’attività sessuale, sulla carenza di pietà religiosa, sull’ubriachezza in pubblico, ecc. Da queste tendenze anti-individualiste ci si può aspettare un rafforzamento non soltanto della coesione comunitaria, ma anche delle tendenze alla cooperazione e ad una genitorialità ad alto investimento nella prole all’interno della comunità stessa, senza che siano compromesse le tendenze all’individualismo politico e (pur entro certi limiti) economico. Si potrebbe dire che il puritanesimo fu una strategia di gruppo individualista: esso lo fu, in effetti, per quanto riguarda le tendenze politiche ed economiche, mentre negli ambiti della religione e del comportamento sessuale fu collettivista.
L’intensità della pubblica violenza applicata nei confronti dei devianti può essere in effetti un esempio della punizione altruistica (punizione degli altri anche a scapito del proprio interesse) esaminata nei capitoli 3 e 8. Ci si può aspettare che una cultura cooperativa di individualisti cerchi di creare un gruppo in grado di adottare elevati livelli di punizione (anche altruistica) nei confronti degli opportunisti e di altri soggetti che violano le regole.
La strategia di gruppo di Giovanni Calvino.
Il calvinismo fu concepito e sviluppato da Giovanni Calvino, un riformatore religioso del XVI secolo attivo a Ginevra. David Sloan Wilson osserva che Calvino non era soltanto esperto nelle Scritture cristiane, ma impressionava anche le persone per la sua capacità di discuterle citandole a memoria, come pure per le sue doti di scrittore5. Questi aspetti indicano un’elevata intelligenza generale, cioè un insieme di meccanismi fondamentali per l’adattamento ad ambienti nuovi e complessi6. In altri termini Calvino, come Mosè e i sacerdoti ebrei che inventarono il giudaismo come strategia evolutiva di gruppo, fu una persona intelligente che cercò di creare una strategia per vivere in un mondo complicato, però una strategia che si inseriva nel contesto teologico tipico del suo tempo. Calvino e i suoi colleghi discutevano molto su come riuscire a tenere insieme una comunità. Essi svilupparono un sistema di credenze “facile da usare”, nel senso che risultava attraente per un’ampia gamma di persone, non soltanto per quelle ben istruite o molto intelligenti. Naturalmente, i sistemi di credenze non devono necessariamente essere veri per motivare un comportamento adattivo, come testimonia la credenza tratta dal libro della Genesi secondo cui Dio avrebbe ordinato agli israeliti di crescere e moltiplicarsi.
Calvino paragonava la sua chiesa ad un organismo con molte parti che lavoravano assieme per il bene del tutto:
Tutti gli eletti di Dio sono uniti e congiunti insieme in Cristo come fossero dipendenti da un’unica Testa, e dunque crescono insieme in un solo corpo, uniti e congiunti tra loro come le membra di un solo corpo. […] Proprio come le membra di un corpo condividono tra loro una sorta di comunanza, e ciascuna di esse ha nondimeno il suo particolare talento e il suo compito distinto7.
Ciascuna persona ha il proprio ruolo nel gruppo; pertanto tutte le occupazioni, dal contadino al ministro di Dio sono degne e santificate.
Il problema degli opportunisti [free-riders] e gli altri problemi derivanti dalla slealtà sono una questione centrale per qualsiasi strategia evolutiva di gruppo. La punizione è sempre un meccanismo efficace e rappresenta senza dubbio un fattore critico per il successo a lungo termine di qualsiasi strategia di gruppo. Comunque, quando un comportamento rispettoso delle regole sia motivato interiormente, i benefici per una strategia di gruppo risultano evidenti, e la teologia calvinista è progettata proprio per questo scopo. La motivazione interiore a non violare le regole del gruppo è che il trasgressore offende Dio e deve pertanto cercare il Suo perdono. Deve pentirsi dei propri peccati. Il perdono e il pentimento sono alla base di tutte le relazioni umane, parte della nostra psicologia evolutasi nel tempo. Tuttavia, credere che le proprie azioni non abbiano soltanto offeso un altro uomo, ma anche un Dio potente e giusto, capace di infliggere la severa punizione della dannazione eterna produce una profonda motivazione a rispettare le regole del gruppo. Questo è un altro esempio di come l’ideologia religiosa cristiana sia capace di motivare il comportamento8. Una grande attenzione venne posta nell’assicurarsi che i pastori fossero dei modelli di rettitudine morale e non fossero inclini alla devianza ideologica che avrebbe portato a scismi e al collasso dello spirito organico e collettivista del gruppo (ricordando il movimento medievale di riforma papale che fu così efficace nel motivare l’impegno dei cristiani nell’Alto Medioevo, cfr. capitolo 5). In effetti, un fattore importante che motivò la Riforma protestante fu la percezione della corruzione della Chiesa in aspetti quali la pratica della vendita delle indulgenze (particolare obiettivo di Martin Lutero) e la ricchezza e l’indolenza di molti monasteri che traevano profitto dalla venerazione delle reliquie (come fu osservato da Erasmo e da altri)9. Questo è un altro indicatore del fatto che il potere della Chiesa e delle altre sette religiose cristiane sia dipeso dalla percezione che il clero costituisse un modello di moralità e perfino di altruismo.
I pastori calvinisti dovevano «ammonire amichevolmente coloro che essi vedevano incorrere nell’errore o condurre una vita disordinata»10. Coloro che violavano le norme religiose erano soggetti ad una serie crescente di punizioni, che andavano dall’“ammonizione fraterna” in privato, da parte del pastore, a forme di pubblica mortificazione, fino ad arrivare alla scomunica, che significava l’espulsione dalla città.
Ai membri del gruppo era richiesto un elevato livello di dedizione, molto elevato in effetti, dato che la congregazione calvinista originaria era costituita dall’intera città di Ginevra e non da un gruppo di persone che si riunivano volontariamente in quanto convertiti. La frequentazione della chiesa era obbligatoria e ciascuna famiglia veniva visitata una volta l’anno per verificare il grado del suo impegno spirituale. Al fine di mantenere la natura organica del gruppo, la punizione colpiva tanto il ricco quanto il povero. Molte delle maggiori battaglie di Calvino ebbero come obiettivo il rafforzamento del codice morale puritano sui soggetti ricchi e potenti che, come ci si può aspettare in base alla teoria evoluzionista, sono maggiormente in grado, rispetto ai meno abbienti, di tradurre ricchezza e potere in relazioni sessuali e successo riproduttivo.
Il calvinismo ebbe successo a Ginevra e si diffuse rapidamente in altre parti d’Europa. Ginevra era stata politicamente divisa e in costante pericolo a causa del conflitto col Ducato di Savoia. Malgrado la disciplina repressiva, le leggi severe e il controllo paternalista (che rese il puritanesimo impopolare in Inghilterra dopo la vittoria dei puritani nella Guerra Civile inglese) gli elementi positivi e costruttivi del sistema di Calvino divennero sempre più efficaci. La popolazione di Ginevra ascoltava le prediche più volte la settimana, veniva educata nelle scuole domenicali di Calvino e istruita dai suoi sermoni, imparava a recitare il suo catechismo, a cantare i salmi e a leggere e comprendere la Bibbia. Si trattava in effetti di un elevato livello di disciplina e di indottrinamento11.
Calvino aveva preso una città dilaniata dalle discordie e l’aveva resa una potenza che andava ben al di là della sua importanza economica. Lo stesso si può dire di una derivazione del calvinismo, i puritani dell’Inghilterra e degli Stati Uniti.
Il puritanesimo nel New England.
I puritani volevano “purificare” la chiesa di stato dell’Inghilterra da ogni residuo di cattolicesimo. Il puritanesimo ebbe origine nell’East Anglia, in Inghilterra, e si diffuse nel New England per diventare la più importante influenza culturale negli Stati Uniti dal XVIII secolo fino alla metà del XX.
Le famiglie puritane. La grande maggioranza dei fondatori puritani del Massachusetts arrivò con la propria famiglia12. In confronto alle altre colonie, «le famiglie del Massachusetts e del Connecticut comprendevano un gran numero di bambini, un numero ridotto di servitori e un’elevata porzione di unioni matrimoniali integre. A Waltham nel Massachusetts, ad esempio, i matrimoni celebrati negli anni 1730 produssero in media 9.7 figli per coppia. Queste famiglie di Waltham furono le più numerose che gli storici della demografia abbiano osservato in tutto il mondo occidentale, fatta eccezione per alcune comunità cristiane che consideravano la riproduzione come una forma di culto»13.
L’alta percentuale di famiglie integre dell’emigrazione puritana in America significa un’incidenza molto bassa, tra i puritani, della pratica dell’esogamia, sia con la popolazione amerindia (come avvenne nelle colonie americane spagnole e soprattutto portoghesi) sia con gli schiavi negri (come negli stati del Sud) o anche con gli altri gruppi etnici e religiosi europei (come negli stati del Medio Atlantico).
I puritani inglesi mantennero l’enfasi originariamente posta da Calvino sulla rettitudine morale e sull’adesione interiorizzata alle norme del gruppo, molte delle quali erano un sostegno alla vita familiare. L’ideologia puritana deplorava «l’ubriachezza, l’indolenza, la dissolutezza e le baldorie»; i puritani «erano costantemente preoccupati di perdere il favore di Dio a causa di qualche manchevolezza e specialmente per l’incapacità di promuovere la riforma morale»; essi «guardavano alla Bibbia come ad una guida per la vita quotidiana, cosa che rendeva i sermoni e la capacità interpretativa dei pastori aspetti di primaria importanza»14.
Questi sostegni sociali alla vita familiare risultarono straordinariamente adattivi in senso evoluzionista. I puritani dell’East Anglia «divennero il prototipo razziale della popolazione yankee americana» e «si moltiplicarono rapidamente, raddoppiando di numero ad ogni generazione per due secoli. Il loro numero passò da 100.000 nel 1700 ad almeno un milione nel 1800, a sei milioni nel 1900 e a più di 16 milioni nel 1988, tutti discendenti dai 21000 emigranti inglesi che giunsero nel Massachusetts tra il 1629 e il 1640»15. Pratiche educative per i bambini. L’educazione puritana dei bambini era severa e comportava un controllo rigoroso, ulteriormente enfatizzato dalla conservazione di forti legami familiari per tutta la vita. L’importanza di una vita familiare bene ordinata non era sicuramente una caratteristica esclusiva dei puritani delle colonie americane, ma costoro continuarono con forza «ad insistere sull’argomento nei sermoni, nelle pubblicazioni, nelle leggi e nei pronunciamenti del governo»16. Mentre le madri si occupavano degli infanti, i padri rivestivano un ruolo primario nell’educazione sia dei figli che delle figlie, spesso insegnando loro a leggere e a scrivere, istruendoli nella religione e consigliandoli anche nell’età adulta nelle decisioni relative al lavoro e al matrimonio.
La morale sessuale dei puritani poneva l’accento sull’amore carnale all’interno del matrimonio, ma proibiva vigorosamente la fornicazione e l’adulterio. Il corteggiamento aveva luogo sotto la supervisione familiare. Un’usanza esemplificativa era l’impiego del courting-stick16a, un tubo rigido lungo all’incirca due metri dotato di un auricolare ad un’estremità e di un’imboccatura all’altra. La coppia di innamorati poteva comunicare bassa voce attraverso tale strumento, mentre i membri della famiglia rimanevano presenti nella medesima stanza. Il tubo aveva un duplice scopo: «combinare una stretta sorveglianza da parte degli adulti con la libertà dei giovani»17. Il courting-stick esemplifica l’impegno della comunità nella riproduzione ad alto investimento: il corteggiamento aveva come scopo la possibilità del matrimonio, non la sperimentazione sessuale.
Intelligenza e importanza dell’educazione. Havelock Ellis, nell’opera di intitolata A Study of British Genius [Studio sul genio britannico, n. d. t.] ha osservato come l’East Anglia possedesse l’intelligenza media più alta della Gran Bretagna e come «dall’East Anglia provenisse un numero di studiosi, scienziati ed artisti più alto rispetto a quello di ogni altra parte dell’Inghilterra»18. Nell’Inghilterra del XVII secolo due contee puritane dell’East Anglia detenevano il più alto tasso di alfabetizzazione, pari a circa il 50%. I puritani erano particolarmente rinomati in campo legale e commerciale. Lo storico dell’East Anglia R. W. Cretton-Cremer li descrive come «severi, caparbi, inclini alla discussione e alla controversia»19.
Come riflesso di questo profilo di elevata intelligenza, la maggior parte dei puritani insediatisi nel Massachusetts apparteneva alla classe media o a classi più elevate, e solo pochi erano autentici aristocratici. I poveri erano ancor meno numerosi: «Meno del 5% era identificato come lavoratori, una porzione minore rispetto alle altre colonie. Solo una piccola minoranza aveva la qualifica di servitore, meno del 25%, mentre in Virginia la proporzione era del 75%»; e «quasi i tre quarti degli emigrati nel Massachusetts avevano pagato il proprio viaggio, una spesa non indifferente nel 1630»20.
Come appare dai cognomi delle famiglie, vi era un numero sproporzionato di commercianti e artigiani: cognomi quali «Chandler, Cooper, Courier, Cutler, Draper, Fletcher, Gardiner, Glover, Mason, Mercer, Miller, Sawyer, Saddler, Sherman, Thatcher, Tinker, Turner, Waterman, Webster e Wheelwright»21, 21a.
Non sorprende pertanto che i puritani si distinguessero per il forte sostegno dato alle biblioteche e alle scuole pubbliche22. Le leggi del Massachusetts richiedevano che ogni insediamento urbano contenente 50 famiglie dovesse assumere un maestro di scuola e ogni centro con 100 famiglie dovesse dotarsi di un ginnasio dove si insegnassero latino e greco23. Perfino i coltivatori illetterati del New England fornivano volontariamente alcuni prodotti dei loro raccolti per sostenere le università e gli studenti.
Le istituzioni educative create dai puritani erano assai più diffuse e sofisticate di quelle delle altre colonie della stessa epoca24. Almeno 130 degli immigrati originari avevano frequentato le università europee. L’università di Harvard venne fondata 6 anni dopo la creazione della colonia della Baia del Massachusetts. Coloro che venivano ammessi a Harward dovevano dimostrare di saper leggere e parlare il latino classico e di conoscere le declinazioni e le coniugazioni del greco. Tali requisiti erano inquadrati in un contesto religioso: «Ognuno dovrà considerare quale scopo principale della propria vita e dei propri studi la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo che è vita eterna»25.
I nomi puritani come indicatori di appartenenza al gruppo. I caratteristici nomi di battesimo dati ai bambini puritani servivano non soltanto a rafforzare i valori del gruppo, ma anche come segni distintivi dell’appartenenza ad esso. Mentre molti puritani davano ai loro figli nomi tratti dal Nuovo e specialmente dal Vecchio Testamento, essi evitavano nomi quali Emmanuel, Jesus, Angel, Gabriel, Michael o Christopher, comunemente in uso tra i cattolici. Altamente indicativa dei valori che i puritani instillavano nei loro figli è la consuetudine dei “nomi esortativi”: Be-corteous Cole, Fight-the-good-fight-on-faith White, Kill-sin Pemble e Mortify Hicks25a. In alcune zone quasi la metà dei bambini riceveva tali nomi, compresa «una sfortunata giovane donna chiamata Fly Fornication Bull […] che fu resa gravida nel negozio di un coltivatore dall’improbabile nome di Goodman Goodman26, 26a». Altro segno distintivo erano i “colori tristi”, ossia un modo di vestire dimesso, con tinte smorte, che distingueva i puritani dagli altri durante il periodo coloniale. Le consuetudini onomastiche dei puritani riflettevano una realtà nella quale per essere un membro era necessario trasformare completamente le propria vita e vedere tutte le cose, piccole e grandi, attraverso la lente dell’ideologia religiosa. «Il puritanesimo chiedeva loro di guardare con occhi nuovi la natura e la struttura del governo, il ruolo delle comunità e gli obblighi delle famiglie; di avere un nuovo atteggiamento nei confronti del lavoro, del tempo libero, delle streghe e delle meraviglie del mondo»27.
Il controllo comunitario del comportamento individuale: il collettivismo puritano. Conformemente alla dottrina originaria di Calvino, il controllo dei comportamenti individuali era molto rigido. Robert Tombs osserva che le idee livellatrici radicali che presero piede sulla scia della Guerra Civile Inglese «non tendevano alla libertà democratica, ma ad un autoritarismo divino poggiante sulla forza delle armi»28. David Hackett Fischer descrive l’ideologia della “libertà ordinata” dei puritani del New England come «la libertà di ordinare i propri atti secondo i dettami divini, ma non in altro modo»29.
Come nell’Antico Testamento, si riteneva che l’ira di Dio si sarebbe scatenata sull’intera comunità e non soltanto sui singoli. Ogni membro era pertanto responsabile della purezza della collettività, dato che i peccati di ciascuno avrebbero avuto conseguenze per l’intero gruppo30. I puritani erano perciò fortemente motivati a controllare coloro il cui comportamento poteva essere considerato offensivo nei riguardi di Dio.
Questa “libertà come obbligo pubblico” comportava un forte controllo sociale sui principi morali che notoriamente comprendeva le relazioni sessuali. I puritani proibivano la celebrazione del Natale sia in Inghilterra che nel Massachusetts e condannavano alla fustigazione, al rogo e all’esilio coloro che scoprivano essere eretici, continuando tuttavia a vedere se stessi come i difensori perseguitati della libertà.
L’ideologia collettivista puritana può essere rappresentata tramite l’analogia tra la comunità cristiana e un corpo, così come essa fu originariamente formulata da Calvino (si veda sopra) e come appare in questo commento di John Winthorp scritto nel 1630 immediatamente prima della fondazione della colonia della Baia del Massachusetts:
Tutti i veri cristiani sono un solo corpo in Cristo […] Tutte le parti di questo corpo sono perciò unite e rese contigue in un rapporto speciale, dovendo necessariamente partecipare ciascuna della forza e della debolezza dell’altra, della gioia e del dolore, del benessere e della sofferenza. 1 Corinzi 12:26: Se un membro soffre, tutti soffrono con lui; se uno è onorato, tutti si rallegrano con lui […] Perché l’opera che abbiamo intrapreso, per mutuo consenso e tramite il governo di una speciale provvidenza e con una più che ordinaria approvazione delle chiese di Cristo, è quello di trovare un luogo di coabitazione e di vita in comune sotto una debita forma di governo sia civile che ecclesiastico. In casi come questo la preoccupazione per il bene pubblico deve prevalere su ogni aspetto privato, essendo a ciò vincolati non solo dalla coscienza, ma dalla stessa norma civile; è infatti una regola vera che il bene privato non possa sussistere di fronte alla rovina di quello pubblico31.
Anche il comportamento economico fu soggetto al controllo della comunità. Come per i gruppi ebraici tradizionali, le relazioni economiche erano basate sulla correttezza tra i membri del gruppo e sul bene del gruppo nel suo insieme, non sulla massimizzazione del profitto individuale. Esistevano regole elaborate riguardo al prezzo che i mercanti potevano stabilire: «Quelli che seguono sono falsi principi: 1) Che un uomo possa vendere al prezzo più alto possibile ed acquistare al prezzo più basso possibile. 2) Che un uomo che subisca la perdita di alcune merci a causa di incidenti di navigazione, ecc. possa aumentare il prezzo delle merci superstiti. 3) Che possa vendere al prezzo al quale ha acquistato malgrado questo si stato troppo alto, ecc. e malgrado la merce sia calata di prezzo, ecc. 4) Che così come un uomo può trarre vantaggio dalle proprie capacità o abilità, possa trarne altresì dall’ignoranza o dalla necessità altrui»32.
Simili principi sono collettivisti e sono contrari a una logica economica individualista, scaricando gran parte del rischio d’impresa sui mercanti. Ad ogni modo, essi stanno ad indicare quanto gli interessi del gruppo, piuttosto che quelli individuali, fossero al centro dell’attenzione.
Il puritanesimo fu una strategia evolutiva di un gruppo chiuso? Abbiamo visto come una caratteristica generale dei gruppi occidentali sia la permeabilità: le barriere, quando ne esistano, non sopravvivono a lungo. Questa generalizzazione vale per i puritani, sebbene vi siano certamente stati dei tentativi di chiudere il gruppo rispetto agli altri.
In Inghilterra il puritanesimo non divenne mai una vera strategia evolutiva di gruppo. Piuttosto, siccome i puritani non controllavano un particolare territorio, essi rimasero una corrente dai confini non del tutto definiti in mezzo alle altre sette protestanti. Nel New England, tuttavia, essi cominciarono come un movimento religioso e politico egemone che controllava un determinato territorio. L’appartenenza alla chiesa richiedeva il voto della congregazione. «Il criterio principale, al di là di un comportamento virtuoso, era basato sulla prova che Dio aveva scelto il candidato per la salvezza eterna, che questi era uno spirito rigenerato e non un uomo o una donna qualsiasi che voleva essere scelto per la salvezza»33.
Dando prova di una considerevole tendenza all’endogamia, e perciò di forza attrattiva del gruppo, le più importanti famiglie puritane dell’East Anglia «si sposavano tra loro con tale frequenza» che uno storico le ha battezzate «il sogno dei prosopografi»34. Vi sono anche esempi di individui che mostrarono qualcosa di simile ad un pensiero razzista. Nel tardo XVIII secolo, l’antifederalista James Winthorp, professore a Harvard e patriota della guerra rivoluzionaria, sollecitava i suoi compatrioti del New England a non ratificare la costituzione, esortandoli a «mantenere puro il loro sangue», perché soltanto «mantenendosi separati dalla mescolanza straniera» essi avevano potuto «conquistare la presente grandezza […] e conservare la loro religione e la loro morale»35. I puritani si consideravano un “popolo eletto”, probabile conseguenza della loro continua immersione nella Bibbia.
Ciò nondimeno, i puritani cercavano di convertire gli altri ai loro costumi, e pertanto il puritanesimo non era, almeno in teoria, una strategia geneticamente chiusa. I puritani del Massachusetts pensavano che i pagani che vivevano tra loro, compresi gli indigeni americani, «dovessero essere convertiti al protestantesimo riformato; dovevano inoltre adottare i costumi sociali e politici dei veri cristiani […] La conversione dei vicini indigeni era un progetto caro ai puritani, assai rivelatore dei loro obiettivi e dell’aspetto della loro società»36. Parlando degli africani che nelle colonie del Massachusetts venivano tenuti soprattutto come schiavi, Cotton Mather scriveva: «Le considerazioni che vi possono spingere ad insegnare ai vostri negri, per quanto potete, le verità del glorioso Vangelo e portarli, se possibile, a vivere una vita sobria, retta e devota secondo quella verità, sono innumerevoli»37.
Malgrado ciò, pochissimi tra i negri e gli indiani entrarono nelle chiese puritane, e Alden Vaugh osserva che mentre pochi puritani, come Mather, tentarono di convertire indiani e negri, «i loro compatrioti del New England trasformarono sempre più il puritanesimo nel rituale tribale dei discendenti dei padri fondatori»38. Dall’epoca della loro nascita, nel 1630, i puritani crearono una società tribale e isolata che escludeva sistematicamente i non puritani e manteneva un forte controllo sui confini del gruppo. Un’antica ordinanza di Springfield richiedeva che le vendite di proprietà potessero aver luogo soltanto nei confronti di coloro che avevano ricevuto l’approvazione dei magistrati cittadini, nel tentativo di impedire «i diversi mali che potrebbero colpire questa municipalità a causa di individui maldisposti che potrebbero infiltrarsi tra noi di contro alle preferenze e al consenso della generalità degli abitanti o dei cittadini distinti, acquistando un appezzamento di terreno o un’abitazione, ecc.»39.
Come osservava John Winthorp nel 1637, «se noi siamo un’associazione stabilitasi per libero consenso, se il luogo della nostra coabitazione ci appartiene, allora nessuno ha il diritto di unirsi a noi […] senza il nostro consenso»40.
L’apertura teorica dei puritani alle conversioni era coerente con l’esclusione degli appartenenti a fedi diverse e nei primi tempi agì in tal senso in maniera piuttosto energica. L’esclusione riguardò in particolare gli anabattisti e i quaccheri, che potevano anche essere condannati a morte qualora avessero fatto ritorno nel New England dopo esserne stati banditi. Quattro quaccheri furono condannati a morte tra il 1659 e il 1661 quando rientrarono nella colonia dopo essere stati allontanati; ma nell’arco di una generazione, a Boston, anche questi dissidenti religiosi vennero tollerati.
Il deterioramento dei confini del gruppo puritano. La colonia puritana mantenne un elevato grado di indipendenza dall’Inghilterra: «Né le potenze straniere né la corona inglese esercitavano molta influenza su questo piccolo gruppo di colonie»41. Comunque, dopo la restaurazione del 1660 e il declino del potere politico puritano in Inghilterra, anche la capacità dei puritani [americani, n. d. t.] di mantenere il controllo del loro territorio cominciò a declinare, fatto che portò ad una società più diversificata sul piano religioso, materialista e cosmopolita. I puritani cessarono di essere un gruppo religioso con un’origine etnica comune e confini ben definiti tra loro e il modo esterno. Come lo storico tedesco Theodor Mommsen disse dei romani, essi non furono più un popolo, ma una popolazione42.
La principale causa del declino dei puritani fu costituita dal fatto che il governo inglese negò loro il diritto di sorvegliare i loro confini e di espellere gli eretici. Nel 1664 il governo britannico decretò che un inglese non aveva bisogno di essere membro della chiesa congregazionalista per avere la qualifica di freeman nel Massachusetts. La Carta del 1691 decretava la libertà di coscienza religiosa per i cristiani (tranne che per i papisti!); essa poneva inoltre fine al diritto della colonia di scegliere il proprio governatore, di limitare il diritto di voto ai membri della chiesa e di espellere gli eretici. E col venir meno del controllo politico divenne sempre più difficile imporre l’ortodossia religiosa e morale puritana sugli abitanti del New England.
La colonia venne pertanto aperta all’immigrazione e presto fu invasa da ondate di persone che non erano vincolate allo stile di vita dei puritani, quanto piuttosto attratte dalla loro fiorente economia. Per di più, la colonia stessa divenne più incline al mercantilismo e al materialismo: l’individualismo era riemerso, liberandosi dalle catene del collettivismo puritano43. Si ebbe inoltre una riduzione della militanza religiosa puritana, forse per via dell’eccezionale richiesta di conformità, intensità emotiva e abnegazione che essa comportava. Sul piano pratico, il sogno (cioè la strategia evolutiva di gruppo) era terminato settant’anni dopo il suo inizio.
Più significativa forse della graduale erosione del monopolio politico e della crescita del materialismo fu la sensazione che dopo la Restaurazione gli abitanti del New England fossero meno determinati dei loro predecessori a edificare una Sion nelle terre selvagge e a fare della loro società un vigoroso esempio di pietà e di rettitudine […] Va riconosciuto che gli uomini e le donne del tardo XVII secolo e del primo XVIII secolo sono forse stati più tolleranti, più pratici e più umani […] dei loro predecessori, ma con l’eccezione dei Mather e di pochi altri membri del clero essi furono certamente anche meno impegnati nel loro attaccamento ai principi puritani44.
Come nell’Antico Testamento, le avvisaglie del declino suscitarono la convinzione che i puritani si erano allontanati dal sentiero della virtù e sarebbero stati distrutti dall’ira di Dio. Dopo il 1660 i predicatori scrissero delle geremiadi contenenti il messaggio che il New England doveva pentirsi per aver deviato dal sentiero di Dio e dai grandi risultati ottenuti dai padri fondatori. Dio non avrebbe più tollerato un popolo così dissoluto: “Cosa farò di una razza tanto ostinata?”
La rivoluzione puritana in Inghilterra.
Il primo scontro ebbe luogo in Inghilterra […] Lo sforzo di abolire il potere assoluto nella sfera temporale e in quella intellettuale, questo è il significato della rivoluzione inglese e il suo ruolo nello sviluppo della nostra civiltà (François Guizot)45.
L’epoca dei Tudor e la creazione della Chiesa d’Inghilterra eclissarono il potere della Chiesa, ma gli eventi provocati da questi sconvolgimenti ebbero come risultato una rivoluzione assai più radicale nella cultura politica inglese del XVII secolo: l’ascesa dei puritani e la conseguente eclissi dell’aristocrazia. Robert Tombs definisce il periodo che va dal 1500 al 1700 e che comprende la Riforma, la Guerra Civile Inglese e la Gloriosa Rivoluzione come “il Grande Spartiacque”, una svolta nella storia inglese46. Analogamente, Andrew Fraser vede nella rivoluzione puritana una fondamentale frattura nella storia dell’Inghilterra. Ne risultò «un carattere sociale radicalmente nuovo» che ebbe come conseguenza «l’embourgeoisement delle élite inglesi»47.
Il radicalismo della rivoluzione puritana finì per distruggere l’antico ordine tripartito IE basato sul dominio di un’élite militare. Questa rivoluzione fu molto più radicale di quella mediante la quale il cristianesimo distrusse gli dei pagani dell’antica Europa, perché «rase al suolo i miti fondatori dell’ordine sociale trifunzionale caratteristico di tutti i popoli IE»48. La rivoluzione puritana e le sue conseguenze posero fine al mondo IE e alla sua versione cristiana: il re e l’aristocrazia («coloro che combattevano, i bellatores»), la Chiesa («coloro che pregavano, gli oratores») e il popolo («coloro che lavoravano, i laboratores»)49.
Fu dunque la quintessenza della rivoluzione moderna, che a motivo dell’ascesa della Gran Bretagna al rango di potenza mondiale dominante costituì una frattura fondamentale nella storia dell’Occidente. Essa segnò l’inizio della fine dell’individualismo aristocratico, col forte accento che questo poneva sulla gerarchia tra le categorie sociali, e l’inizio dell’ascesa dell’individualismo egualitario, con la sua ideologia di livellamento sociale e di democrazia parlamentare mescolate col capitalismo e l’accumulazione della ricchezza.
Dai puritani la Guerra Civile fu concepita in termini religiosi, con una forte dose di millenarismo: la prima di numerose guerre sante di ispirazione puritana miranti a conseguire il millennio di pace e di virtù. Le bandiere dello schieramento parlamentarista recavano «motivi religiosamente aggressivi», con disegni anti-papisti e motti tratti dall’Antico Testamento come «Ardenti d’amore per Sion» o «Li spezzerai con una verga di ferro»50. Dopo aver conquistato il potere, Oliver Cromwell attaccò la Spagna, «il perfetto bersaglio di una guerra santa, il nemico di “qualsiasi cosa venga di Dio”, che implicava “tutta le gente malvagia del mondo, sia all’estero che in patria”»51.
La rivoluzione, per quanto fosse cominciata in Inghilterra, si completò lentamente in quel paese, mentre negli Stati Uniti, «come conseguenza della Guerra Civile, l’assoluta egemonia della società livellatrice, accumulatrice e utilitarista cui la rivoluzione puritana aveva aperto la strada si radicò saldamente»52. Il nuovo ordine fu assai più egualitario del vecchio. Le congregazioni eleggevano i loro ministri, che le servivano secondo i loro desideri. Mentre fino ad allora la guerra era stata un ambito di competenza della nobiltà, l’Esercito di Nuovo Modello [New Model Army] di Cromwell si basò sulla partecipazione dei cittadini.
La rivoluzione fu anche profondamente spirituale e produsse enormi energie, che finirono per essere caratterizzate assai più da preoccupazioni capitalistiche e finanziarie che non da quelle religiose e spirituali. «Individualismo possessivo» e «consumo raffinato» finirono per definire la più alta espressione del carattere e della cultura anglosassoni. Il governo dell’Inghilterra e delle altre aree anglosassoni venne ad essere dominato da interessi commerciali e finanziari.
Comunque, dal punto di vista del nuovo ordine, la rivoluzione era riuscita a rovesciare un sistema oppressivo. Quando gli intellettuali del nuovo ordine guardavano al passato inglese non vi vedevano un ordine sociale fatto di libertà e di reciprocità. Al contrario, gli storici Whig consideravano il Medioevo un’epoca oppressiva, nella quale il popolo non aveva parte nel governo ed era costituito per la gran maggioranza da villani, vassalli o servi dei loro signori53.
La rivoluzione puritana negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti la rivoluzione puritana fu portata ai suoi estremi, e di nuovo osserviamo forti tendenze millenaristiche. Svincolate dall’aristocrazia ereditaria e dalla religione inglesi, durante l’epoca di Jackson «le scarse influenze conservatrici rimaste in campo religioso, politico e giuridico» furono messe da parte54. Ne derivò un entusiastico individualismo radicale, per il quale ogni persona poteva avere accesso diretto e immediato a Dio. Questo individualismo radicale diffidava di ogni manifestazione del potere organizzato, compreso quello delle compagnie commerciali private. Comunque, le compagnie d’affari create dagli eredi del puritanesimo, ai quali ci riferiremo d’ora in poi con la sigla WASP (White Anglo-Saxon Protestants [Bianchi Anglosassoni Protestanti, n. d. t.]) finirono per degenerare in strutture mostruose «incapaci di preservare sia i confini di classe della borghesia che il carattere etnico della nazione angloamericana nel suo insieme»55. Nelle mani degli anglosassoni recenti e contemporanei, il moderno concetto di società d’affari è analogo a quello di “proposition nation” [nazione-proposta, n. d. t.]: una mera concatenazione di contratti senza alcun carattere etnico; Fraser tuttavia osserva come le società d’affari dominate dagli altri gruppi non perdano il loro carattere etnico. Come evidenziato nel capitolo 2, i contratti vincolati dal giuramento erano una caratteristica centrale della cultura IE.
Le tendenze egualitarie alimentate dal puritanesimo misero fine all’ordine sociale aristocratico di derivazione IE del Vecchio Sud [degli Stati Uniti, n. d. t.]. Il trionfo del Nord nella Guerra Civile Americana significò per gli Stati Uniti un ulteriore allontanamento dalle radici IE.
Il risultato della vittoria di Lincoln fu che i limiti posti al potere federale «vennero messi da parte mediante i decreti esecutivi e la forza militare. Schiacciando gli stati del Sud, Lincoln indebolì fatalmente il principio federale; il suo esercizio arbitrario dei poteri di emergenza pose le basi di una dittatura dell’esecutivo ogni volta che circostanze eccezionali giustificassero la sospensione delle libertà costituzionali»56.
Le tendenze intellettuali del XIX secolo di ispirazione puritana come versioni secolari dell’utopismo morale.
Un aspetto interessante del puritanesimo è la sua tendenza a perseguire cause utopistiche presentate come questioni morali; la sensibilità dei puritani all’utopia si richiama ad una “legge superiore” e alla credenza che lo scopo principale di un governo sia di carattere morale (si veda il capitolo 7 per un’analisi psicologica dell’idealismo morale). Il New England rappresentò il terreno più fertile per «la perfettibilità della fede umana» e fu «il padre di una dozzina di -ismi»57. Vi fu la tendenza a rappresentare le alternative politiche come imperativi morali fortemente contrastanti, dove una delle parti veniva dipinta come l’incarnazione del male, ispirata dal demonio. L’intensità morale dei puritani può anche essere colta nella loro «profonda pietà personale»58 e nell’intensità del loro impegno a vivere una vita non solamente santa, ma anche sobria e operosa.
Mentre nelle colonie puritane del Massachusetts il fervore morale era indirizzato a mantenere in riga i confratelli puritani, nelll’Ottocento esso si secolarizzò, indirizzandosi all’intero paese. Il fervore morale che aveva ispirato i predicatori puritani e i magistrati ad imporre con severità le leggi contro la fornicazione, l’adulterio, l’addormentarsi in chiesa o le critiche rivolte ai predicatori fu reso universale e diretto a correggere quelli che venivano percepiti come i mali del capitalismo e della schiavitù.
I puritani mossero una guerra santa in nome della rettitudine morale anche contro i loro stessi cugini; ciò rappresenta assai probabilmente una forma di punizione altruistica, considerato il sacrificio di persone strettamente imparentate tra loro per entrambi gli schieramenti della Guerra Civile Americana. Quali che siano state le complesse cause politiche ed economiche che condussero alla quella guerra, fu la condanna morale della schiavitù da parte degli yankee ad ispirarne la retorica e a rendere giustificabile alle coscienze dei puritani l’enorme massacro di anglo-americani, strettamente imparentati tra loro, compiuto nell’interesse degli schiavi africani. Sul piano militare, la guerra contro la Confederazione rappresentò il più pesante sacrificio in termini di vite umane e di proprietà mai compiuto dagli americani59. Il fervore morale dei puritani e la loro tendenza punitiva appaiono altresì evidenti nell’esortazione del ministro congregazionalista della Henry Ward Beecher’s Old Plymouth Church, durante la Seconda Guerra Mondiale, a «sterminare il popolo tedesco […] sterilizzazione di 10 milioni di soldati tedeschi e segregare la donna»60.
Ernest Tuveson osserva che la corrente moralistica e idealistica del pensiero americano tende a venire a galla nei periodi di crisi come «il periodo dell’espansione, la Guerra Civile, la Prima Guerra Mondiale»61. Una volta che il male è stato sconfitto la retorica si spegne, e quando la gente si rende conto che il male, dopo tutto, non è stato estirpato, può prodursi la disillusione62. Il male però rimane in agguato sullo sfondo e può tornare in azione nei momenti di crisi. «Tuttavia, malgrado la disillusione successiva alla Guerra Civile, il mito della Nazione Redentrice mantenne la sua presa sui sentimenti più profondi del paese e nei momenti critici si fece valere»63; per citare diversi discorsi di Woodrow Wilson, «l’America ha avuto l’immenso privilegio di portare a compimento il proprio destino e di salvare il mondo»64.
Il trascendentalismo come movimento di intellettuali di origine puritana.
American Transcendentalism di Philip Gura fornisce un pregevole ritratto dei trascendentalisti come un’élite intellettuale statunitense del XIX secolo le cui caratteristiche possono essere fatte risalire alle loro origini puritane; essi crearono ciò che oggi conosciamo come una cultura di sinistra: utopistica, idealistica e moralistica65. Ciò riveste un interesse considerevole perché il trascendentalismo fu un movimento che rimase del tutto estraneo all’ambiente a predominanza ebraica della sinistra americana del XX secolo66. Esso fu in effetti un movimento autoctono, e la sua storia ci dice molto riguardo alla sensibilità di un importante gruppo di intellettuali bianchi, fornendoci forse qualche indizio sul perché, nel XX secolo, il sistema WASP venne così facilmente rimpiazzato da una nuova élite ebraica.
Sorto nel New England, il trascendentalismo fu fortemente associato a Harvard e a Boston, il cuore del New England puritano. Fu anche strettamente collegato all’unitarianismo, che era un ramo del congregazionalismo puritano originario e che era diventato la forma di affiliazione religiosa più diffusa tra i membri dell’élite di Boston. Molti trascendentalisti erano membri del clero unitariano, compreso Ralph Waldo Emerson, la persona il cui nome, nella pubblica opinione, è più strettamente legato al movimento.
Queste persone molto intelligenti vivevano in un’epoca nella quale le credenze religiose necessitavano di una difesa intellettuale piuttosto che di cieca obbedienza. La loro formazione era tipica dei cristiani del New England di quell’epoca. Ma con l’espansione del loro mondo intellettuale (spesso frequentando la Harvard Divinity School) essi vennero a conoscenza del “criticismo biblico avanzato” che aveva avuto origine tra gli studiosi tedeschi. Questo insegnamento dimostrava che il libro della Genesi era opera di diversi autori e che Mosè non aveva scritto i primi cinque libri dell’Antico Testamento. Essi vennero inoltre a conoscenza delle altre religioni, come il buddhismo e l’induismo, che rendevano improbabile un monopolio cristiano della verità religiosa. Se il criticismo biblico implicava che le fondamenta della fede religiosa fossero malferme, e se appariva improbabile che Dio avesse dotato il cristianesimo di una verità religiosa esclusiva, i trascendentalisti avrebbero costruito nuove basi ponendo l’accento sulla soggettività dell’esperienza religiosa.
Alla ricerca di una fondazione intellettuale della religione, essi rifiutarono l’empirismo di John Locke, secondo il quale la mente umana reagisce passivamente agli eventi esterni, rivolgendosi invece all’idealismo di Immanuel Kant, Friedrich Schelling e Samuel Taylor Coleridge, che si basava sull’idea di una mente attiva e creativa, capace di concepire mondi ideali e di trapiantarli nella realtà. Come sintetizzava nel 1840 lo scrittore e attivista politico Orestes Brownson, il trascendentalismo difendeva «la capacità [dell’uomo] di conoscere la verità intuitivamente [e] di conseguire la conoscenza scientifica di un ordine di esistenza trascendente la portata dei sensi [il programma degli empiristi] del quale non possiamo avere un’esperienza sensibile»67. Ognuno possiede dalla nascita un elemento divino e la mente contiene «principi innati, incluso il sentimento religioso»68.
Le intuizioni dei trascendentalisti erano decisamente egualitarie e universaliste. «L’ispirazione divina universale (la grazia quale diritto di tutti fin dalla nascita) costituì il basamento del movimento trascendentalista»69. L’idea di Dio, di moralità e di immortalità sono parte della natura umana e non necessitano di apprendimento. Questo è l’equivalente spirituale dell’ideale democratico per cui tutti gli uomini (e le donne) sono creati uguali.
Le intuizioni sono, per la loro stessa natura, sdrucciolevoli. Si può con altrettanta plausibilità (dal mio punto di vista con maggior plausibilità) sostenere che gli esseri umani possiedono idee innate dell’avidità, del desiderio, del potere e dell’etnocentrismo: è la visione dei darwinisti, che comparve più tardi nel corso del secolo XIX e che assurse ad una posizione predominante agli inizi del XX. Nel contesto dell’ambiente filosofico del trascendentalismo, le intuizioni non erano ritenute passibili di investigazione empirica. La loro verità era ovvia e cogente, cosa assai rivelatrice del contesto religioso del movimento.
Oltre al rifiuto dell’empirismo come base della conoscenza, i trascendentalisti rifiutarono il materialismo e l’enfasi che esso pone sui «fatti, sulla storia, sulla forza delle circostanze e sui desideri animali dell’uomo»70. Sostanzialmente, essi non volevano spiegare la storia o la società umana, e certamente non sarebbero stati impressionati da una visione darwinista della natura umana che pone l’accento su certe realtà sgradevoli quali la competizione per il potere e le risorse e sul ruolo che tali realtà rivestono nello svolgimento della storia. Essi adottarono piuttosto una visione utopica degli uomini come esseri capaci di trascendere tutto ciò mediante i poteri spirituali conferiti da Dio alla mente umana.
Non sorprende che tale filosofia abbia portato molti trascendentalisti ad un profondo coinvolgimento nell’attivismo sociale in nome degli strati più bassi della società, vale a dire i poveri, i carcerati, i malati di mente, i disabili e (fattore critico) gli schiavi del Sud.
Trascendentalisti famosi.
Gli esempi che seguono daranno un’idea di alcuni degli atteggiamenti più caratteristici e del tipico attivismo sociale di alcuni importanti trascendentalisti.
Orestes Brownson (1803-1876). Brownson ammirava la credenza universalista nell’intrinseca dignità di tutti gli esseri umani e nella promessa di una salvezza universale finale per tutti i credenti. Egli sosteneva «l’unità delle razze e l’intrinseca dignità di ogni persona e criticò aspramente i sudisti per il loro tentativo di allargare la loro basa politica»71. Come molti abitanti del New England si sentì offeso dalla decisione presa dalla Corte Suprema nel caso Dred Scott, che imponeva alle autorità del Nord di restituire gli schiavi fuggiaschi ai loro padroni del Sud. Per Brownson la Guerra Civile fu una crociata morale che mirava non soltanto alla conservazione dell’Unione, ma anche all’emancipazione degli schiavi. Scrivendo nel 1840, Brownson sostenne che noi [americani, n. d. t.] dovremmo «realizzare nella nostra organizzazione sociale e nelle condizioni effettive di tutti gli uomini quell’eguaglianza tra uomo e uomo» che Dio ha stabilito ma che è stata distrutta dal capitalismo72. Secondo Brownson, i cristiani dovevano
abbattere chi sta in alto e sollevare chi sta in basso; rompere le catene e le barriere e liberare i prigionieri; distruggere ogni oppressione e stabilire il regno della giustizia, che è il regno dell’eguaglianza tra uomo e uomo; far sorgere nuovi cieli e nuove terre dove dimori la rettitudine, dove tutti siano fratelli amandosi l’un l’altro e nessuno possieda ciò che ad un altro manca73.
George Ripley (1802-1880). Ripley fondò la comunità utopistica di Brook Farm e fu un importante critico letterario, «predicando con impegno il messaggio centrale dell’unitarianismo, la credenza in un principio religioso interiore universale che conferiva validità alla fede ed univa tutti gli uomini e le donne»74. Egli scrisse che i trascendentalisti «credono in un ordine di verità che trascendono la portata dei sensi esterni. La loro idea guida è la superiorità della mente sulla materia». La verità religiosa non dipende dai fatti o dalla tradizione, ma è innata in ogni essere umano: una visione, questa chiaramente universalista.
[La verità religiosa] ha un testimone inerrante nell’anima. C’e una luce, essi credono, che illumina ogni uomo che viene al mondo; in tutti, anche nel più degradato, nel più ignorante e nel più oscuro, esiste la facoltà di percepire la verità spirituale, quando sia distintamente rappresentata; e l’appello definitivo, in tutte le questioni morali, non è ad una giuria di studiosi, ad una gerarchia di ecclesiastici o alle prescrizioni di una fede, ma al senso comune del genere umano75.
Ripley fondò la sfortunata Brook Farm sul principio della sostituzione della «competizione egoistica» con la «cooperazione fraterna»76. La sua creazione fu un modello di progetto trascendentalista che sviluppò una società utopistica basata sulla ragione e sulle intuizioni morali. Egli mise in questione le basi economiche e morali del capitalismo, sostenendo che se le persone facevano il lavoro che desideravano e per il quale avevano talento, il risultato sarebbe stata una società non competitiva e senza classi dove ciascuno avrebbe trovato la propria realizzazione.
Amos Bronson Alcott (1799-1888). Alcott fu un educatore che «credeva nella bontà innata di ciascuno dei bambini ai quali insegnava»77. Egli «si rese conto di come la visione dell’umanità positiva ed inclusiva dell’unitarianismo fosse in accordo con la propria»78. Fu sostenitore di un forte controllo sociale al fine di socializzare i bambini: le infrazioni erano rese pubbliche all’intero gruppo degli studenti e l’intero gruppo era punito per il cattivo comportamento di un singolo studente; un residuo, forse, di collettivismo puritano. I suoi allievi erano i figli dell’élite intellettuale di Boston, ma i suoi metodi finirono per diventare impopolari. La scuola chiuse dopo che la maggior parte dei genitori ritirò i propri figli quando Alcott pretese di ammettere un bambino negro, fatto che sta ad indicare come sebbene i trascendentalisti costituissero l’élite intellettuale antischiavista, le loro idee non godevano necessariamente del favore del pubblico. Alcott appoggiò l’abolizionismo radicale di William Garrison e sostenne finanziariamente John Brown e il suo tentativo violento di porre fine allo schiavismo.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Emerson, l’intellettuale più conosciuto di quel periodo, cominciò la sua carriera scatenando notevoli controversie con un discorso indirizzato alla Harvard Divinity School, nel 1832, in cui reinterpretava l’affermazione fatta da Cristo circa la propria divinità come coinvolgente tutti gli uomini:
Un uomo è stato fedele a quanto c’è in voi e in me. Egli ha visto che Dio si è incarnato in un uomo e continua ad avanzare per prendere possesso del suo mondo. Egli ha detto, in questo giubileo di sublime emozione: «Io sono divino. Attraverso di me Dio agisce; attraverso di me Egli parla. Se vuoi vedere Dio, guarda me; oppure guarda te stesso, se anche tu pensi come io penso ora»79.
Per quanto relativamente individualista secondo i criteri del trascendentalismo, Emerson sostenne che credendo nel loro divino scopo le persone avrebbero trovato il coraggio di prendere posizione in favore della giustizia sociale. L’individuo reso potente da Dio era dunque destinato a scardinare l’ordine sociale.
Theodore Parker (1810-1860). Parker fu un ministro unitariano, uno scrittore, un intellettuale pubblico e un modello di attivismo progressista motivato religiosamente. Analogamente ad Emerson, egli scrisse che «Dio è vivo ed è in ogni persona»80. Fu anche un attivista sociale interessato alla criminalità e alla povertà, e si oppose con forza alla Guerra Messicana e allo schiavismo. Attribuì la responsabilità del crimine e della povertà alle condizioni sociali e condannò i mercanti nei termini dell’universalismo morale: «Siamo tutti fratelli, il ricco e il povero, l’americano e lo straniero, posti quaggiù dal medesimo Dio per lo stesso fine, in viaggio verso lo stesso paradiso e tenuti ad aiutarci a vicenda»81. Nella visione di Parker, lo schiavismo era «la rovina di questa nazione» ed era la vera ragione della Guerra Messicana, poiché questa mirava ad estendere gli stati schiavisti. Parker fu molto più attivo socialmente di Emerson, diventando uno dei più importanti abolizionisti e un sostenitore finanziario segreto di John Brown.
Quando Parker guardava alla storia dei puritani, li vedeva come persone che si battevano per i principi morali. Approvava John Eliot, in particolare, perché aveva predicato tra indiani e aveva tentato di convertirli al cristianesimo.
Ciò nondimeno, Parker rimane in parte un enigma perché, malgrado fosse un noto abolizionista e favorisse l’integrazione razziale nelle scuole e nelle chiese, era tuttavia incline a commenti paternalistici e sprezzanti sulla possibilità degli africani di progredire, sostenendo che la razza anglosassone era «la più portata al progresso» di tutte82. Egli distingueva cinque caratteri razziali [degli anglosassoni, n. d. t.]: il talento per l’amministrazione, il «marcato materialismo», l’«amore per la libertà individuale», il senso pratico (ovvero un «carattere non ideale e non poetico») e (sorprendentemente) l’«ostilità verso le altre tribù umane»83. William Henry Channing (1810-1884). Channing fu uno scrittore trascendentalista e un socialista cristiano. Scrisse che «l’amore cristiano e il lavoro nel suo spirito daranno inizio ad una società più egualitaria»84 che avrebbe incluso gli immigrati, i poveri, gli schiavi, i prigionieri e i malati di mente. Lavorò senza sosta a sostegno della causa dell’emancipazione e del Freedman’s Bureau, ufficio ideato per fornire servizi sociali agli ex schiavi.
L’attivismo trascendentalista in nome della giustizia sociale.
Negli anni 1840 esisteva una divisione tra i trascendentalisti relativamente individualisti come Emerson, che
«davano valore alla crescita spirituale individuale e all’espressione di sè» e i «riformatori sociali come Brownson, Ripley e, in misura crescente, Parker»85. Nel 1844 Emerson si unì ad un gruppo di oratori che comprendeva degli abolizionisti, ma molti trascendentalisti contestarono l’enfasi da lui posta sull’autonomia individuale, considerati la Guerra Messicana, le sollevazioni in Europa e lo schiavismo. Essi ritenevano che il fare affidamento su se stessi non fosse efficace per combattere la gigantesca aggregazione di interessi che quegli eventi rappresentavano. Elizabeth Peabody deplorava l’insistenza di Emerson sul fatto che un trascendentalista non dovesse lavorare «per piccoli obiettivi come l’abolizionismo, il movimento per l’astinenza dall’alcol, le riforme politiche, ecc.»86 (lei stessa era una sostenitrice del movimento che mirava ad inserire nel sistema scolastico le scuole materne, come pure della causa dei nativi americani).
Emerson tuttavia si oppose allo schiavismo. In un discorso tenuto nel 1844 egli elogiò i negri caraibici per la loro ascesa ad occupazioni migliori dopo la schiavitù: «Non è stato così negli Stati Uniti, dove ai discendenti degli africani è stata preclusa ogni opportunità di essere uguali ai bianchi. Questo comunque è soltanto un riflesso del fallimento morale della società bianca, perché “nessuna razza può perfezionare la propria civiltà quando un’altra razza è umiliata”»87.
Emerson ed altri trascendentalisti si sentirono offesi dalla legge sugli schiavi fuggiaschi [Fugitive Slave Law] del 1850. Gura osserva che per Emerson «il paesaggio stesso appariva deprivato della sua bellezza, ed egli aveva addirittura problemi a respirare a causa dell’“infamia” dell’aria»88. Dopo il fallimento di John Brown, Emerson fu «lieto di vedere che il terrore della disunione e dell’anarchia sta[va] scomparendo» perché il prezzo della libertà degli schiavi poteva richiederlo89. Sia Emerson che Henry David Thoreau espressero commenti sul retaggio di puritano del New England di John Brown. Emerson cercò di influenzare Abraham Lincoln sullo schiavismo, e quando questi emancipò gli schiavi scrisse: «Le nostre ferite sono guarite; la salute della nazione è ripristinata»90. Era valsa la pena combattere la guerra a tale scopo.
E’ opportuno osservare qui che Lincoln proveniva dal New England ed è un buon esempio dello spirito millenarista che pervadeva il pensiero del XIX secolo. Un aspetto centrale del trascendentalismo era l’idea che i poteri creativi della mente umana fossero in grado di realizzare la società ideale. Il teorico conservatore M. E. Bradford sottolinea questo aspetto del pensiero di Lincoln descrivendo il suo «puritanesimo laico» che doveva «sostituire la chiesa con lo stato»91. Il millenarismo non è pertanto del tutto individualista: «Dio deva operare attraverso gruppi coesi di uomini; la divisione tra figli della luce e figli delle tenebre dev’essere geografica»92. Alla fine, quel gruppo coeso di uomini fu l’esercito dell’Unione che marciava al suono dell’“Inno di battaglia della Repubblica”.
L’accento posto sulle riforme e sulla conquista del potere statale segna un distacco dall’originaria preoccupazione dei trascendentalisti di dare un sostegno alle basi intellettuali della religione. Tuttavia esso continua a riflettere le idee morali ed egualitarie dei primi trascendentalisti nel loro sforzo di costruire una società utopica basata sulla ragione. Stante questo imperativo morale, anche le forze dell’apocalisse potevano essere utilizzate per conseguire quell’obiettivo, in una lotta manichea tra bene e male. Bradford commenta il rifiuto del compromesso da parte di Lincoln, nel discorso di Peoria del 16 ottobre 1854, con parole che mostrano una forte somiglianza con la retorica politica dei nostri giorni.
La grande difficoltà nel discorso di Peoria di Lincoln risiede nel fatto che esso rifiuta definitivamente ogni accomodamento, il sacro principio di Clay e dei Fondatori, e al suo posto minaccia l’apocalisse qualora il principio alternativo di esclusione non venga applicato a tutti i territori occidentali della Repubblica [ossia qualora lo schiavismo non sia escluso dai nuovi stati mediante un ordine federale, in contrasto con l’atteggiamento popolare, com’era stato richiesto dal Compromesso del Missouri del 1820 abrogato tuttavia dal Kansas-Nebraska Act del 1854]. Accettare il concetto che esista una politica superiore a queste alternative è stato definito “mostruoso” e “meritevole d’odio”. Siamo ora ritornati al falso dilemma. L’ordinaria persuasione è rinnegata. E’ in gioco una nuova religione politica. E sebbene Lincoln pretenda ancora di agire in maniera civile e sostenga di «non mettere in questione il patriottismo e non voler colpire le motivazioni di ciascuno o di qualunque categoria di uomini», siamo già bene incamminati sulla strada di una retorica puritana in piena regola di guerra perpetua contro i “poteri dell’oscurità”: andiamo “verso due schieramenti universali armati, impegnati in una lotta mortale l’uno contro l’altro”93.
Si noti in particolare l’affermazione di Lincoln secondo cui rifiutare che il governo federale potesse escludere lo schiavismo dai nuovi stati era una cosa “mostruosa” e “meritevole d’odio”: queste espressioni sono comunemente usate dalla sinistra americana contemporanea per condannare le proposte politiche della destra, specialmente quelle riguardanti la razza.
In definitiva si tratta di uno scontro morale, come Lincoln affermò nel suo dibattito con Stephen Douglas del 1858:
E’ l’eterna lotta tra questi due principi, il giusto e l’errore, nel mondo intero. Sono due principi che si sono contrapposti l’uno all’altro dall’inizio dei tempi; ed essi continueranno a combattersi per sempre94.
Lincoln rientra nelle tendenze millenariste del XIX secolo con la sua fede in un progresso inevitabile che condurrà ad una futura società utopica, inquadrata tuttavia in una cornice religiosa. Queste tendenze sono descritte da Ernest Lee Tuveson nella sua opera Redeemer Nation: «E’ impressionante rendersi conto di quanto diffusa fosse questa versione religiosa della fede nel progresso. Specialmente negli Stati Uniti, l’interpretazione millenarista della Parola di Dio contribuì molto a formare gli atteggiamenti riguardo ai problemi contemporanei»95. E a causa di questo involucro religioso, queste idee esercitarono una considerevole influenza su persone relativamente prive di cultura che mai avrebbero letto i trascendentalisti o Herbert Spencer.
Queste idee furono ampiamente diffuse nella cultura di massa del periodo. Un buon esempio è dato da Julia Ward Howe, il cui “Inno di battaglia della Repubblica” fu pubblicato nel 1862. Era una bostoniana e una parrocchiana di Theodore Parker e sia lei che suo marito erano amici di Ralph Waldo Emerson. Il suo inno incarna l’idea messianica dello scontro cosmico tra bene e male, pieno com’è di immagini tratte dal libro dell’Apocalisse: «Come Egli morì per santificare gli uomini, moriamo anche noi per rendere gli uomini liberi, mentre Iddio avanza».
Il trascendentalismo: un riepilogo.
E’ facile simpatizzare per l’ottimismo e la fede nel progresso che tanto caratterizzarono gli intellettuali e gli autori religiosi del XIX secolo. Il progresso materiale era un fatto concreto, e il secolo aveva visto compiere grandi passi in avanti nella scienza e nella tecnologia (ferrovie, macchine per cucire, telegrafo, vulcanizzazione della gomma, motori a combustione interna, fotografia, fonografo, telefono e molti altri ancora). Come fu osservato da molti scrittori millenaristi, la vita stava migliorando e le sue condizioni materiali progredivano. Nel 1814 uno scrittore religioso, Joel Barlow, preconizzò un mondo con «una vita più lunga nella santa utopia, dove la popolazione crescerà e milioni di acri ora incolti saranno resi fruttiferi»96. Un cugino di Ralph Waldo Emerson, Joseph Emerson, pastore e teologo, scriveva nel 1818 anticipando un mondo in cui i viaggi sarebbero stati più facili e l’accrescimento della conoscenza sarebbe divenuto più rapido97.
Questi miglioramenti nel mondo secolare si combinavano, per i discendenti religiosi dei puritani, con una visione che vedeva il progresso come non limitato alla sola realtà materiale, ma esteso anche a quello spirituale, la “santa utopia”. L’umanità stava dunque avanzando verso un’utopia materiale e spirituale, un’età dell’oro di pace, armonia, comportamento retto e benessere materiale, idee cui spesso si univa quella per cui questa età dell’oro sarebbe arrivata dopo uno scontro apocalittico tra bene e male. Questo tipo di pensiero può sicuramente aver rappresentato la lente attraverso la quale molti, nel Nord, videro la Guerra Civile; e come detto in precedenza, essa sembra caratterizzare il modo in cui Lincoln vedeva il proprio ruolo di agente di Dio che combatteva una battaglia apocalittica contro il male.
In effetti, molti di questi pensatori credevano che l’utopia potesse realizzarsi soltanto come risultato di una campagna militare. Così Joseph Bellamy, un importante predicatore e teologo congregazionalista del tardo XIX secolo, identificava «l’intero processo della redenzione con una lunga operazione militare nelle quale, alla fine, il condottiero superiore avrebbe prevalso». Bellamy scriveva: «si avvicina il tempo dell’ultima battaglia generale, quando si conseguirà una gloriosa vittoria».
Analogamente, nel XIX secolo era del tutto ragionevole per gli europei, e in particolare per quelli dell’area nordoccidentale, pensare di costituire un popolo speciale, visto che avevano sostanzialmente conquistato il mondo e gli americani, in particolare, si erano procurati un’enorme quantità di terre all’interno di un continente. Per di più, tutte quelle invenzioni e tutti i progressi scientifici erano opera di europei. Era abbastanza naturale, pertanto, pensare che vi fosse qualcosa di speciale e di unico negli europei e nella loro cultura, come in effetti vi era.
All’inizio queste idee di identità etnica non si basavano su sofisticate teorie della razza ed erano tipicamente collegate a varie idee religiose (si veda la sezione seguente). Ma con l’avanzare del secolo, e in particolare dopo che la prospettiva naturalistica ed empirista di Darwin ebbe acquistato influenza, le concezioni razziali degli anglosassoni, dei popoli germanici e degli europei in generale furono spogliate dei loro significati religiosi da intellettuali di mentalità più laica, che finirono per dominare l’alta cultura degli Stati Uniti. Queste nuove idee razziali divennero allora la base per la creazione dell’ambiente intellettuale in cui la legge sull’immigrazione del 1924, che mirava alla difesa etnica, venne promulgata.
Dopo la Guerra Civile, l’idealismo dei trascendentalisti perse la sua posizione di prestigio e gli intellettuali americani abbracciarono in misura crescente il materialismo e la scienza. Mentre agli inizi del secolo il materialismo si ispirava soprattutto a Locke, ora esso era rappresentato da Charles Darwin, Auguste Comte e William Graham Sumner. Dopo la Guerra Civile il contributo dei trascendentalisti al dibattito culturale americano «rimase vivace, seppur meno rilevante, in particolare tra coloro che mantenevano in vita il sogno di un’umanità comune fondata sull’irriducibile eguaglianza di tutte le anime»98, un’osservazione che illustra il profondo universalismo egualitario (il sogno di un’umanità comune) che stava al centro del trascendentalismo. Uno degli ultimi trascendentalisti, Octavius Brooks Frothingham, scrisse che il trascendentalismo veniva «soffocato dalla filosofia dell’esperienza che, sotto nomi diversi, stava prendendo possesso del mondo speculativo»99. Egli descrisse i nemici del trascendentalismo come «positivisti»100. Dopo la morte di Emerson, George Santayana ha osservato che egli «era un’anima gioiosa, infantile, impermeabile all’evidenza del male»101.
All’inizio del XX secolo, dunque, il trascendentalismo era un ricordo lontano e i nuovi materialisti avevano trionfato. La prima parte del secolo vide il massimo splendore del darwinismo nel campo delle scienze sociali. Era cosa comune, all’epoca, pensare che esistessero importanti differenze tra le razze sia per quanto riguarda l’intelligenza che per quanto attiene alle qualità morali. Non solo le razze differivano tra loro: esse erano anche in competizione per la supremazia. Per esempio Sumner, un darwinista sociale, pensava che le divisioni tra le classi sociali e tra le razze, come pure la competizione, fossero parte dell’ordine naturale delle cose. Scrivendo nel 1903, egli osservava che «le due razze vivono ora più indipendentemente l’una dall’altra di quanto facessero» nell’epoca dello schiavismo102. Le idee razziali erano entrate a far parte degli strumenti della vita intellettuale, divenendo un fatto normale tra gli intellettuali di ogni tipo, compreso un significativo numero di nazionalisti razziali ebrei interessati alla purezza razziale e al potere politico del popolo ebraico.
Molti di costoro erano sionisti103.
La difficile associazione tra individualismo e identità etnica anglosassone nel XIX secolo.
Di sicuro, essere un cristiano, un anglosassone e un americano in questa generazione significa trovarsi al vertice del privilegio. Josiah Strong, 1893104.
Gli americani come me, che sono preoccupati dal declino e dallo spodestamento dei bianchi, dall’ascesa del multiculturalismo e dalla massiccia immigrazione di non-bianchi, devono prendere atto delle forti componenti dalla cultura americana che hanno facilitato questo fenomeno. Da un lato, l’individualismo e l’insieme dei tratti ad esso collegati (universalismo morale, scienza, spirito faustiano di esplorazione e conquista) costituiscono le caratteristiche fondamentali della modernizzazione occidentale, quelle che hanno permesso alle culture occidentali di dominare il mondo e di colonizzare regioni molto lontane dalla loro patria d’origine europea.
Dall’altro lato, per via della sua relativa mancanza di etnocentrismo e delle sue tendenze all’assimilazione piuttosto che all’erezione di barriere tra il proprio gruppo e i gruppi esterni, un’importante componente dell’individualismo americano ha sviluppato teorie largamente ottimiste e idealiste quanto al futuro dell’America. I teorici progressisti del XIX secolo vedevano un’America futura dominata da persone che avevano il loro stesso aspetto e pensavano come loro: anche le persone appartenenti a razze differenti sarebbero alla fine diventate anglosassoni e protestanti, a prescindere da quale fosse la loro origine razziale. Comunque, malgrado i loro valori illuministi (che nella loro essenza sono individualisti) tra i Padri Fondatori degli Stati Uniti era cosa comune pensare a se stessi in termini etnici. Nel suo libro L’Ascesa e la caduta del Nordamerica, Erik Kaufmann mostra come nei secoli XVIII e XIX gli angloamericani possedessero una forte consapevolezza di essere i discendenti biologici delle tribù anglosassoni amanti della libertà: «Le assemblee civiche del New England erano messe in relazione con i consigli tribali anglosassoni, e le affermazioni di Tacito relative al carattere libero ed egualitario degli anglosassoni erano interpretate secondo un’ottica americana». Leggiamo ad esempio in Tacito: «Il re o il capo, in base alla sua età, nascita, distinzione in guerra o eloquenza, viene ascoltato più perché possiede l’influenza per persuadere che per il potere derivante dal comando. Se ciò che egli pensa non è loro gradito, essi lo respingono con un mormorio; se ne sono soddisfatti, brandiscono le loro lance»105.
I piccoli proprietari terrieri [yeoman farmers] erano considerati il modello etnico. Dopo aver redatto la costituzione, Thomas Jefferson disse che gli americani erano «i figli di Israele nel deserto, guidati da una nuvola di giorno e da una colonna di fuoco la notte; a per altro verso [erano i figli di (n. d. t.)] Hengist e Horsa, i capi sassoni da cui rivendichiamo l’onore di discendere, e i cui principi politici e forma di governo abbiamo adottato»106. Una prima versione della Dichiarazione di Indipendenza faceva riferimento ad offese recate al «sangue comune»107.
Simili affermazioni di fiducia etnica erano comuni tra gli intellettuali e i politici nel periodo precedente la Guerra Messicana. Ad esempio, nel 1846 Walt Whitman scrisse: «Che cosa ha a che fare il miserabile, inefficiente Messico con la missione di popolare il Nuovo Mondo con una nobile razza?»108. Questo era il periodo in cui Samuel George Morton pubblicò i suoi dati sulla capacità cranica delle diverse razze, mostrando che gli europei avevano una capacità cranica maggiore rispetto agli altri gruppi razziali, mentre gli africani mostravano la minor capacità cranica media109.
Successivamente, nello stesso secolo, lo scrittore protestante Josiah Strong osservava:
[Il libro dell’Apocalisse ci insegna] che il mondo sta chiaramente entrando in una nuova era, che in questa nuova era l’umanità dovrà essere posta sempre più sotto l’influenza anglosassone e che la civiltà anglosassone è la più propizia alla diffusione di quei principi il cui trionfo universale è necessario a quella perfezione della razza cui è destinata; e la completa realizzazione di ciò costituirà il pieno avvento del regno dei cieli sulla terra110.
In effetti, questa convinzione che gli inglesi come razza godessero di una posizione speciale presso Dio «non era affatto limitata ai gruppi puritani, né ebbe termine con le guerre civili. Vi sono ampie prove che essa abbia perdurato come idea guida, nei paesi di lingua inglese, fino al XX secolo»111.
Come si è visto nei capitoli precedenti, Jefferson aveva ragione nel considerare l’inclinazione degli anglosassoni all’individualismo e al governo rappresentativo come tratti etnici. Questa visione fu affermata con forza nel passo già citato in precedenza dello storico whig di metà Ottocento Thomas Macaulay, che evidenziava le particolari caratteristiche della “razza germanica”:
La Riforma era stata una rivolta sia nazionale che morale. Non era stata soltanto un’insurrezione del laicato contro il clero, ma anche un’insurrezione di tutti i rami della grande razza germanica contro la dominazione straniera. E’ una circostanza altamente significativa che nessuna grande società la cui lingua non sia quella teutonica sia mai diventata protestante, e che dovunque si parli la lingua derivata da quella dell’antica Roma la religione che attualmente prevale sia quella della Roma moderna112.
Ernest Tuveson commenta: «Questa idea è stata presente fin dal XVII secolo. Si cominciò a pensare che i popoli germanici in generale avevano mostrato, nel corso della loro storia, qualità come il coraggio, l’intelligenza e l’amore per la libertà che li rendevano particolarmente adatti ad essere i difensori della “libertà cristiana” promessa nel Nuovo Testamento e a far progredire la causa della religione e della civiltà»113.
Un aspetto critico dell’individualismo è che i confini di gruppo sono relativamente permeabili e l’assimilazione è la norma. Come osserva Kaufmann, anche nel XIX secolo l’individualismo ebbe come conseguenza l’assimilazione piuttosto che la conservazione di confini impermeabili con gli altri gruppi europei: «Le relazioni interetniche seguivano un modello di conformità anglosassone […] Gli immigrati dovevano trasformarsi in WASP americani assimilando l’inglese americano, la libertà americana, il protestantesimo americano e, in fine, sposando degli americani»114.
Per esempio, nel tardo XVIII secolo la risposta alla colonizzazione tedesca su larga scala della Pennsylvania fu il rifiuto del separatismo tra tedeschi e americani e un modello multiculturale dell’America. I tentativi di fare del tedesco una lingua ufficiale e di avere leggi scritte in tedesco furono respinti con decisione. I tedesco-americani cominciarono ad anglicizzare i propri nomi per meglio adattarsi all’ambiente americano. Si presupponeva, anche da parte di molti progressisti, che questi individui etnicamente estranei avrebbero assunto l’aspetto degli angloamericani e agito come loro. Nel XIX secolo i progressisti mostravano un tipico «anglo-conformismo ottimista ed espansionista che accettava gli immigrati a patto che apparissero simili agli anglo-protestanti e assimilati al corpus mito-simbolico dei WASP»115.
Questa ideologia ottimista era alimentata da un pensiero assai confuso riguardo alla razza. Gli intellettuali americani del XIX secolo tendevano ad avere quella che Ralph Waldo Emerson chiamava una «doppia coscienza»: una tendenza a pensare che l’America fosse votata ad un cosmopolitismo non razzista e progressista, insieme ad una tendenza ad identificarsi fortemente con la propria origine etnica anglosassone. Ciò è coerente con l’individualismo, perché la tendenza etnica è quella di assimilare gli altri piuttosto che erigere solide barriere tra popoli diversi. Comunque il risultato fu un vicolo cieco culturale nel quale gli intellettuali furono costretti a tentare di riconciliare l’identità anglosassone con le affermazioni di universalismo.
Emerson stesso rappresentò un esempio di doppia coscienza. Egli scrisse che l’America era «il rifugio di tutte le nazioni […] L’energia degli irlandesi, dei tedeschi, degli svedesi, dei polacchi e dei cosacchi e di tutte le tribù europee, degli africani e dei polinesiani edificherà una nuova razza […] tanto vigorosa quanto quella della nuova Europa che venne fuori dal crogiolo dell’Età Oscura». Questa chiarissima affermazione di universalismo coesisteva con la seguente, risalente all’incirca alla stessa epoca: «Nessuna persona sincera può sostenere che la razza africana abbia mai occupato o dato speranze di occupare mai una qualunque posizione elevata nella famiglia umana […] Gli irlandesi non possono; gli indiani d’America non possono; i cinesi non possono. Di fronte all’energia della razza caucasica tutte le altre razze hanno provato timore e si sono inchinate»116.
Queste idee non sono contraddittorie: l’idea che esistano differenze tra le razze è compatibile con quella secondo la quale, alla fine, tutte le razze assumeranno l’aspetto degli anglosassoni e si comporteranno come loro. Nel suo libro English Traits [Tratti inglesi, n. d. t.], Emerson ammette le differenze razziali: «La razza è, nell’ebreo, un’influenza che esercita un controllo; per due millenni, in qualsiasi ambiente, l’ebreo ha conservato il medesimo carattere e le medesime occupazioni. Nei negri la razza ha un’importanza sconcertante»117. Egli comunque sostiene che i confini razziali siano deboli e che «le nazioni migliori sono quelle che hanno una parentela più ampia; e la navigazione, favorendo una mescolanza su scala mondiale, è il più potente motore delle nazioni»118.
Ciò che appare strano è la credenza, da parte di Emerson, che la razza inglese rimarrà tale anche dopo aver assorbito le altre razze. Emerson pensava che gli immigrati in America sarebbero stati letteralmente assimilati dalla razza inglese: L’«elemento straniero [in America], per quanto considerevole, viene rapidamente assimilato» dando come risultato una popolazione di «origine e di lingua inglese» (corsivo nostro)119. Questo è un esempio del pensiero confuso sulla razza che fu caratteristico di molti intellettuali nel corso del XIX secolo.
Il problema di fondo era che questi pensatori erano lamarckiani, cioè credevano che le persone potessero ereditare tratti che i loro antenati avevano acquisito nel corso delle loro vite. Avendo come riferimento JeanBaptiste Lamarck piuttosto che Darwin, la razza e la cultura risultavano fuse assieme. Gli intellettuali progressisti pensavano che i negri sarebbero diventati dei bianchi attraverso un’ulteriore educazione, come «un corso d’acqua sporca che passa attraverso un limpido lago e che alla fine si ripulisce perdendo ogni traccia di fango»120.
La teoria di Lamarck è sempre stata cara alla sinistra perché contiene la promessa che i tratti ereditari possano essere facilmente modificati cambiando semplicemente l’ambiente. Non è un caso che il lamarckismo sia diventato l’ideologia ufficiale nell’Unione Sovietica, proprio perché esso implicava che sarebbe stato piuttosto facile modellare l’uomo nuovo sovietico o, come pensava Trofim Lysenko, il direttore dell’Istituto di Genetica dell’URSS, sviluppare specie coltivabili in grado di crescere nei climi freddi.
Nelle mani degli assimilazionisti anglosassoni, il lamarckismo era parte dello spirito ottimista degli intellettuali progressisti dell’élite del XIX secolo che immaginavano gli abitanti dell’America futura come persone in tutto simili a loro, a prescindere dalla loro origine.
Interesse personale e ideologia progressista.
Una tendenza etnica all’individualismo rende meno probabile che le persone erigano barriere nei confronti degli altri gruppi. Ma gli individualisti sono certamente in grado di sviluppare un senso di identità etnica. Infatti abbiamo visto come fosse alquanto comune per gli anglosassoni pensare all’individualismo come derivante al loro retaggio etnico. Comunque, gli individualisti sono relativamente meno etnocentrici, e di conseguenza è relativamente facile che altre motivazioni diventino predominanti. Queste motivazioni possono andare dall’autorealizzazione libertaria alle attività affaristiche funzionali all’interesse privato che, ad esempio, promuovono l’immigrazione dei non-bianchi quando questa arrechi vantaggi economici personali, qualunque effetto ciò abbia sugli altri gruppi della società o sulla società nel suo insieme.
Kaufmann segnala una tendenza generale, ancor oggi evidente, in base alla quale i protestanti appartenenti all’élite strinsero alleanza con gruppi di immigrati (compresi quelli non-bianchi come i cinesi della Costa Occidentale negli anni 1870) per incoraggiare l’immigrazione. Queste élite erano in conflitto con gli angloprotestanti della classe media e della classe operaia di entrambi i partiti, nonchè con i loro difensori intellettuali di sangue nobile e di ispirazione darwiniana che vivevano sulla Costa Orientale121. «Per placare il dissenso all’interno del loro partito, le élite repubblicane accusarono la loro ala populista di razzismo e di intolleranza etnica»122, una tendenza che rimane piuttosto comune al giorno d’oggi.
Come accade anche oggi, i soggetti più progressisti non correvano rischi personali nel sostenere le loro posizioni (ad esempio nel mostrarsi favorevoli all’immigrazione cinese nelle zone in cui non vi erano cinesi); forse i progressisti immaginavano che «la divina Provvidenza […] avrebbe mantenuto il numero dei cinesi negli Stati Uniti a un livello minimo»123. Di nuovo, ci troviamo di fronte ad una certa confusione: repubblicani di spicco come William Seward (segretario di stato dal 1861 al 1869) «sostenevano la parità dei diritti per i negri» e nello stesso tempo «credevano fortemente nella separazione delle razze e nell’omogeneità della nazione»124.
Altre correnti intellettuali progressiste del XIX secolo.
Eric Kaufmann segnala quattro differenti tradizioni intellettuali progressiste aventi tutte la loro origine nel XIX secolo e ancora presenti ai nostri giorni125. Ciascuna può essere vista come una diversa espressione dell’individualismo. Nessuna costituì una corrente maggioritaria, né ebbe un ruolo decisivo nel creare lo spartiacque della rivoluzione controculturale degli anni 1960. Ma tutte mostrano un forte legame con il cosmopolitismo privo di radici presente nel pensiero delle élite intellettuali laiche e religiose che avevano la loro origine nei puritani del New England. E siccome questi movimenti erano animati da soggetti che occupavano posizioni di autorità e di influenza culturale, essi probabilmente produssero un ambiente favorevole o per lo meno non intenzionato ad opporsi vigorosamente ai movimenti più radicali che vennero alla ribalta con l’ascesa di una nuova élite e che in definitiva dimostrarono il tracollo dell’eredità puritana in America. In sostanza, essi prepararono il terreno per la loro stessa eliminazione.
Anarchismo libertario.
Una corrente del progressismo del New England è rappresentata dall’anarchismo libertario, di cui costituisce un esempio Benjamin Tucker, sostenitore di un illimitato individualismo e contrario ad ogni proibizione riguardante i comportamenti non invasivi (“libero amore”, ecc.). Ma anche i libertari come lui erano consapevoli del fatto che la loro mentalità proveniva dal loro retaggio etnico: «La tradizione radicale [dell’individualismo anarchico] non era necessariamente orientata al cosmopolitismo, anzi, come nel caso di figure radicali quali Thomas Jefferson, Horace Greeley, Ralph Waldo Emerson e Walt Whitman, spesso rafforzava l’orgoglio etnico e nazionale […] La logica anarchica non aveva cancellato del tutto ogni traccia di appartenenza bianca, anglosassone e protestante»126.
Gran parte della visione di coloro che Kaufmann definisce i «pionieri espressivi» dei primi del XX secolo si fondava sulla ribellione contro l’America protestante dei piccoli centri, contro la sua repressione sessuale e le sue usanze che portavano all’esclusione di alcuni soggetti (p. es. gli omosessuali). Era un individualismo radicale libero da quei controlli sociali che erano stati una caratteristica della tradizione puritana. In effetti, come indicato in precedenza, il puritanesimo dovrebbe essere inteso come caratterizzato da una tensione interna tra l’individualismo e un forte controllo sociale, ossia quelle regole che governavano ogni cosa, dalla frequentazione della chiesa al comportamento sessuale. Gli individui di origine puritana che lasciavano questi gruppi rigidamente controllati erano liberi di sviluppare idee individualiste radicali alla maniera di Benjamin Tucker.
Avendo la propria base a New York, questa cultura individualista “espressiva” d’avanguardia non ebbe un ruolo significativo nel XIX secolo, venendo messa in ombra dal radicalismo raffinato della tradizione trascendentalista del New England. I nuovi bohémiens del Greenwich Village (ca. 1910-1917) erano guidati da Max Eastman (1883-1969) e si identificavano nella liberazione culturale, da essi intesa come libertà dalle costrizioni. Furono i primi precursori degli hippie degli anni 1960, che proclamavano la scoperta di sé, il primato dell’emotività sulla logica, l’intuizione, la ribellione, il libero amore, il jazz negro e una politica di sinistra. Essi svilupparono un’ideologia di gruppo che funzionava come una pseudo-identità etnica, nella quale i comportamenti condivisi avevano la funzione di linee di confine. Avevano miti fondatori, figure iconiche e una visione utopica di un futuro espressivo ed egualitario.
In breve, si trattava di una comunità morale che condivideva valori e aspetto esteriore, del tipo assai caratteristico dei gruppi occidentali (e contrapposto alle identità basate sulla comune origine etnica o sui legami di parentela). Un’altra importante figura di questo tipo fu H. L. Mencken (1880-1956), che si oppose al puritanesimo in quanto «moralistico, esteticamente sterile e di ostacolo allo sviluppo intellettuale americano»127.
Molti si ribellarono apertamente alla cultura cristiana dei piccoli centri nei quali erano cresciuti. Ribelli come Hutchins Hapgood erano attratti dagli ebrei perché questi rappresentavano “l’altro”: «Fui portato a trascorrere molto tempo in miseri ricoveri della New York yiddish, non per ragioni filantropiche o sociologiche, ma semplicemente per l’attrazione che provavo nei confronti delle persone e delle cose di quei luoghi». Horace Kallen, il filosofo ebreo del pluralismo culturale (che comunque conservò i propri legami etnici128) così giudicava, nel 1915, gli effetti dell’individualismo degli intellettuali americani dell’epoca:
La vecchia America, la cui voce e il cui spirito erano il New England […] se n’è andata per sempre. Gli artisti e i pensatori del paese sono in prevalenza americani di ceppo britannico, ma ciascuno di loro lavora per sé, senza una visione o un ideale comune. Non hanno un ethos, non più. La vecchia tradizione è passata dalla vita alla memoria129.
L’individualismo espressivo è rimasto un fenomeno marginale fino a quando è diventato parte integrante della controcultura degli anni 1960. A quel punto, esso si è integrato nella cultura di massa americana come una componente della cultura di sinistra.
Per inciso, ci sono state in realtà due correnti nella controcultura di sinistra degli anni 1960: una versione hippie dell’individualismo espressivo e una versione politicamente radicale. Queste due correnti hanno interagito tra loro e si sono sovrapposte, ma avevano anche importanti differenze: gli hippie erano meno coinvolti politicamente e più interessati all’espressione artistica e alla sperimentazione delle droghe, mentre i radicali spesso deprecavano la mancanza di impegno politico degli hippie. I radicali non erano figli dei fiori130.
Il movimento dell’individualismo espressivo, al centro della cultura americana, seguì pertanto, più che precedere, i principali mutamenti culturali causati dal successo degli intellettuali newyorkesi e degli altri movimenti intellettuali a dominanza ebraica presi in esame dal libro La Cultura della Critica, quando questi giunsero a dominare il dibattito culturale dopo la Seconda Guerra Mondiale e specialmente negli anni 1960 e in quelli seguenti131. Il successo dell’individualismo espressivo, dunque, non fu la causa dell’eclissi dell’America anglosassone, ma piuttosto la conseguenza dell’ascesa di una nuova élite intellettuale che se ne fece promotrice in quanto parte della nuova cultura della sinistra.
Per finire, il fatto che alcune persone di origine puritana abbiano promosso l’individualismo espressivo si spiega forse meglio avanzando l’ipotesi che il loro individualismo congenito fosse libero di esprimersi dopo il declino dei rigidi controlli sociali che il puritanesimo aveva istituito in quanto strategia di gruppo fortemente controllata. Si dice che fare degli individualisti un gruppo è come cercare di formare un gregge di gatti. Una cosa del genere richiede forti controlli a livello di gruppo e un’ideologia che razionalizzi tali controlli: esattamente ciò che fece il puritanesimo tradizionale.
Il protestantesimo liberale.
Kaufmann nota diverse varianti del protestantesimo liberale nel pensiero del XIX secolo. La Free Religious Association (FRA, fondata nel 1867) fu una derivazione più progressista degli unitariani, che erano a loro volta la corrente più liberale della religione americana e una derivazione del puritanesimo. Ma anche qui, i membri della FRA consideravano i loro atteggiamenti progressisti come derivanti dal loro retaggio etnico. Dopo aver affermato che il suo movimento intendeva umanizzare (non cristianizzare) il mondo, Francis E.
Abbot, il fondatore della FRA, disse: «Quello di cui ho ancora bisogno non proviene più dalla servitù spirituale, ma dev’essere cercato e trovato nel virile esercizio della libertà. E’ a coloro che sentono questo istinto di libertà anglosassone ribollire nelle loro vene che sono indirizzate le mie parole, non a quelli che non provano fastidio per il comodo giogo»132.
Merril Gates (1848-1922), presidente del Rutgers College e predicatore congregazionalista, univa al suo impegno religioso la credenza che le sue idee politiche provenissero dal suo retaggio etnico: «Non vi è altro “destino manifesto” per qualunque uomo [se non la libertà] [..] Ad essa noi [progressisti] siamo devoti, con tutta la logica di duemila anni di storia teutonica e anglosassone, fin da quando Arminio […] tenne testa, in nome della libertà, alle legioni di Roma»133.
Molti protestanti del XIX secolo credevano che, alla fine, tutti gli americani sarebbero volontariamente divenuti protestanti. I capi religiosi, in particolare i metodisti e i battisti, respingevano l’idea di inserire il cristianesimo nella costituzione degli Stati Uniti, ma mantenevano la convinzione che il governo statunitense fosse cristiano. «Gli anglo-protestanti volevano che la loro tradizione fosse quella dominante, ma le loro idee universaliste e progressiste non avrebbero tollerato misure restrittive di carattere legislativo»134. Il cristianesimo avrebbe mantenuto la propria speciale posizione mediante la persuasione, non attraverso la coercizione.
Per inciso, il cosmopolitismo progressista del tardo XX secolo ha adottato la strategia opposta: una volta ottenuto il potere, ha sviluppato un marcato atteggiamento coercitivo, che include tentativi di limitare la libertà di parola e di rimuovere dal loro posto di lavoro le persone che mostrino convinzioni ed atteggiamenti che confliggono con lo Zeitgeist cosmopolita; un segno, questo, che il cosmopolitismo progressista del tardo XX secolo è decisamente più in linea con la tradizione puritana, che unisce tendenze individualiste a un forte controllo sociale, che con qualunque cosa assomigli all’anarchismo libertario.
Inoltre, anche se non approvavano il cattolicesimo, i capi religiosi protestanti degli anni 1840 non si opposero all’immigrazione cattolica, nella convinzione di poter convertire gli immigrati alla «fede “Americana”»135 ed assorbirli all’interno della razza anglosassone. In effetti, tutte le razze sarebbero emigrate in America con il nuovo Millennio: nelle parole di un noto battista, «nel radunarsi di tutte le nazioni sui nostri lidi, non assistiamo forse alla preparazione provvidenziale di una seconda Pentecoste che inaugurerà il Millennio di gloria?»136. Tutte le razze saranno state assorbite da quella anglosassone e con esse le loro migliori qualità, «rimanendo tuttavia [la razza anglosassone] sostanzialmente immutata»137.
Questo è un buon esempio dell’ottimismo così diffuso tra gli intellettuali americani del XIX secolo. Ed è anche una forma estrema di egocentrismo. Quello che il buon ecclesiastico affermava era che tutti i popoli avrebbero finito per assimilarsi ad una sola razza e ad una sola religione, così da apparire e da comportarsi sostanzialmente come lui. Perfino nel XVII secolo Oliver Cromwell aveva una visione puramente religiosa e molto puritana della tolleranza: «egli favorì la libertà di coscienza per il credente (scozzese, inglese, ebreo, gentile, presbiteriano, indipendente, anabattista e chiunque altro) come una via che conduce alla verità finale, all’unità e al Millennio»138. Il millenarismo non può esistere se non è ottimista.
Il periodo che va dal 1900 al 1910 vide anche il sorgere di un’élite protestante liberale disposta a sacrificare il sogno della conversione ad un’etica universalista e umanitaria. L’idea che gli anglosassoni avrebbero convertito il mondo al cristianesimo protestante (diffusa nel tardo XIX secolo) si affievolì dopo il 1910. Questa élite era più aperta al relativismo religioso e criticava il senso implicito di appartenenza alla razza bianca dei missionari cristiani. Il Federal Council of Churches ([Concilio Federale delle Chiese, n. d. t.] FCC, fondato nel 1908) divenne una struttura organizzativa fondamentale del protestantesimo liberale. Nel 1924, in un’epoca in cui il Congresso degli Stati Uniti stava approvando a grande maggioranza un progetto di legge che limitava l’immigrazione favorendo quella proveniente dall’Europa nordoccidentale, la FCC decise che
l’idea di un’innata superiorità razziale dei gruppi dominanti del mondo non è né sostenuta dalla scienza, né giustificata dall’etica. Il tentativo di regolare le relazioni interrazziali su tali basi e tramite l’uso della forza costituisce una negazione dei principi cristiani dell’intrinseca superiorità dei valori etici e del supremo valore della personalità. Quando venga applicata alle popolazioni negre e bianche d’America, tale filosofia porta soltanto alla sofferenza e alla disperazione139.
La FCC citava i passi del Nuovo Testamento di carattere universalista piuttosto che quelli che riflettono l’etnocentrismo ebraico e che nell’Antico Testamento sono predominanti. Questo era il punto di vista di un’élite, molto distante dal sentire popolare. Gli anni Venti del Novecento videro le masse protestanti schierate in favore delle restrizioni in materia di immigrazione e timorose del comunismo e delle altre forme di radicalismo politico associate agli immigrati; numerosi erano i simpatizzanti del Ku Klux Klan. Malgrado questi sentimenti popolari, i mezzi di informazione e i ministri del culto protestanti del Nord e del Sud attaccarono il Ku Klux Klan durante tutti gli anni Venti. Alcuni ministri progressisti vennero costretti a lasciare le loro congregazioni a causa della pressione popolare.
Questa élite protestante liberale si collocò ai massimi vertici della cultura assai prima della caduta definitiva dell’America anglosassone: «Dal 1918 al 1955 il concetto di identità nazionale sostenuto dagli amministratori delle università, dagli intellettuali, dai burocrati e dall’esecutivo federali anglo-protestanti subì un mutamento, passando da una concezione WASP ad una visione più pluralista»140. La mentalità dell’élite abbracciò il pluralismo piuttosto che l’assimilazione.
Questo tipo di progressismo cristiano liberale non caratterizzava tuttavia la gran massa dei bianchi americani: esso «si ritrovò ben presto ad essere marginale non soltanto rispetto alla società americana, ma anche rispetto alla corrente maggioritaria del progressismo»141. Durante gli anni Venti si verificò un’ascesa del protestantesimo fondamentalista non elitario rappresentato da figure come Billy Sunday e Carl McIntire, che si oppose all’élite liberale. La massa dei protestanti, anche tra le denominazioni liberali, non accettò il cosmopolitismo delle élite. La FCC e i mezzi di informazione religiosi che si opposero all’Atto Red Johnson del 1924 che limitava l’immigrazione rappresentarono una posizione di minoranza. Durante gli anni Trenta e nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale l’unico tentativo di successo per ottenere una risposta positiva da parte dei politici sulla questione dei rifugiati riguardò il caso in cui questi erano britannici. Più difficile fu collocare i rifugiati ebrei, e la risposta non fu entusiastica. La FCC non ebbe successo nel tentare di fare pressioni in favore della proposta di legge Wagner-Rogers, che chiedeva l’ammissione di 20.000 bambini ebrei tedeschi oltre la quota stabilita142.
La FCC entrò a far parte della corrente maggioritaria quando condannò il comunismo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma la guida della FCC (chiamata ora Consiglio Nazionale delle Chiese) rimase ovunque saldamente nelle mani dell’ala sinistra dei suoi componenti. Uno studio della fine degli anni Sessanta mostrava che il 33% del laicato sosteneva l’attivismo in favore dei diritti civili, contro il 64% del clero; l’89% riteneva che i problemi dei negri fossero una responsabilità dei negri stessi, contro il 35% del clero; il 42% del laicato appoggiava i provvedimenti riguardanti le origini nazionali, che favorivano l’immigrazione proveniente dall’Europa occidentale, contro soltanto il 23% del clero. Evidentemente, le élite religiose protestanti non esercitavano una grande influenza sulla mentalità del laicato.
I protestanti liberali, progressisti ed ecumenici, erano un’élite di persone di formazione universitaria che si consideravano consapevolmente “l’elemento migliore”, ossia possedevano quel senso di superiorità morale e intellettuale che è così diffuso nella sinistra odierna. Ma Kaufmann riconosce che questa «raffinata visione liberale e progressista era limitata» e che, da sola, non avrebbe probabilmente provocato un profondo mutamento culturale143. In generale, l’élite protestante liberale si muoveva di pari passo con i propri fratelli progressisti laici, cioè seguiva le tendenze laiche piuttosto che guidarle, e di conseguenza essa appare in definitiva di scarsa importanza al fine di comprendere la caduta dell’America anglosassone.
Il determinismo culturale accademico e l’antidarwinismo.
Nella storiografia accademica del XIX secolo, Frederick Jackson Turner concepì l’America come un crogiolo nel quale l’ambiente della frontiera fondeva gli immigrati in un’unica razza americana. La nuova razza non sarebbe stata anglosassone o inglese, ma inconfondibilmente americana. Turner era dunque un lamarckiano, cioè un sostenitore dell’idea che i tratti acquisiti potessero essere ereditati: l’ambiente della frontiera americana formava le caratteristiche della nuova razza, che venivano poi trasmesse come tratti genetici.
Ciò nonostante, Turner non aveva simpatia per i nuovi immigrati. «Evidentemente, Turner aveva semplicemente posto l’accento su una parte della mitologia etnica americana che aveva ereditato (frontiera, libertà, ruralismo) senza buttar via gli altri simboli (protestantesimo, senso di appartenenza alla popolazione bianca e nordica)»144. Ma dalle idee di Turner a forme più radicali di cosmopolitismo progressista il passo era breve. La sua prospettiva generale era assimilazionista: diffidenza verso i novi immigrati unita alla speranza che questi sarebbero stati assimilati alla cultura anglosassone e ad una comune identità razziale. In definitiva, comunque, questa tiepida forma di progressismo accademico WASP ebbe scarsa importanza. Col 1915 Franz Boas e i suoi studenti dominarono l’Associazione Antropologica Americana e cominciarono ad esercitare una vasta influenza su altre discipline accademiche. L’antropologia boasiana è la principale teoria del determinismo culturale del XX secolo e può essere considerata un movimento intellettuale ebraico145. Kaufmann ignora quasi del tutto l’influenza di Boas ma, come si vedrà più avanti, i boasiani ebbero un ruolo decisivo nella scomparsa del darwinismo dalle scienze sociali, e il darwinismo era un elemento critico che stava alla base di ogni possibile difesa etnica anglosassone. In assenza di una teoria darwiniana si apriva la strada alla fondazione di una teoria della cultura come tabula rasa, che in ultima analisi ebbe come risultato un sistema culturale che avrebbe considerato l’eclissi dell’America anglosassone come un imperativo morale.
La sinistra laica.
A partire dalla fine del XIX secolo, gli intellettuali WASP cominciarono ad interagire e a tessere alleanze con intellettuali ebrei immigrati di prima e di seconda generazione alquanto favorevoli alla mancanza di identità etnica che scoprirono tra i loro seguaci WASP. In conclusione, la scena intellettuale della sinistra, che non aveva mai trovato diffusione nella gran massa degli americani, finì per essere dominata da intellettuali ebrei, con vaste conseguenze per quanto riguarda la direzione della cultura americana del tardo XX secolo e oltre. A differenza dei suoi precursori progressisti WASP, la sinistra ebraica riuscì ad avere un effetto trasformante sulla cultura e sulla mentalità popolari americane nella direzione del cosmopolitismo. Kaufmann attribuisce a due ebrei, Felix Adler (1851-1933) e Israel Zangwill (1864-1926) la responsabilità di aver spinto le tendenze universaliste americane del XIX secolo fino al punto di rifiutare del tutto l’etnicità. Adler fondò la New York Society for Ethical Culture [Società newyorkese per la cultura etica, n. d. t.] nel 1876 e divenne presidente della Free Religious Association (si veda sopra) nel 1878. Kaufmann cita Adler come un sostenitore della dissoluzione del giudaismo attraverso l’assimilazione, nella prospettiva della sua scomparsa finale: «I singoli membri della razza ebraica si guarderanno intorno e percepiranno l’esistenza di una grande e forse più grande libertà religiosa al di là del recinto della loro razza, perderanno le loro peculiari idiosincrasie e il loro tendenza al separatismo si dissolverà. E, alla fine, la razza ebraica morirà»146. Comunque, Adler credeva che gli ebrei dovessero soltanto «universalizzarsi per poter esistere, una volta che il compito [della dissoluzione etnica dei non ebrei] fosse stato portato a termine»147 cosa che sta ad indicare come egli disapprovasse e temesse il senso di identità etnica dei non ebrei. In effetti, Adelr dichiarò che «Fino a che vi sarà una ragione per l’esistenza del giudaismo, gli ebrei si manterranno separati, e faranno bene»148.
Secondo Adler, dunque, la «ragione per l’esistenza» del giudaismo era quella di propagandare la sua nuova religione universalista della cultura etica fino a che il mondo intero non si fosse convertito. Kaufmann osserva come, sotto l’influenza di Adler, «i pensatori anglo-protestanti preconizzassero la fine [dell’angloprotestantesimo] in maniera altrettanto esplicita quanto quella con cui Adler preconizzava la fine del giudaismo»149. Alla fine, gli anglosassoni applicarono a se stessi le dottrine di Adler, senza attendere però che i non anglosassoni come Adler mutassero la loro identità etnica e il loro senso dell’interesse di gruppo. In effetti, le idee di Adler sono considerevolmente coerenti con quelle dei più noti rabbini del giudaismo riformato del periodo. Kaufmann Kohler (1843-1926) (come anche il suo mentore David Einhorn (18091879) e Samuel Hirsch (1815-1889) ) è un importante esempio della tendenza del giudaismo riformato a sostenere il carattere universalistico dell’etica ebraica, affermando al contempo che Israele dovesse rimanere separato così da rappresentare un faro morale per il resto dell’umanità: un faro di universalismo e di dissoluzione etnica per i non ebrei. «Non si può sottovalutare l’importanza del fatto che l’atteggiamento più caratteristico degli intellettuali ebrei post-illuministi sia l’idea che il giudaismo rappresenti un faro morale per il resto dell’umanità»150.
Ciò suggerisce che Adler abbia conservato la propria identità ebraica. Era sposato con una donna ebrea e mantenne relazioni interpersonali con ebrei, come ad esempio la sua stretta amicizia con Louis Brandeis, un influente giudice della Corte Suprema e un importante attivista sionista dell’epoca; Brandeis aveva sposato una sorella della moglie di Adler.
Adler era dunque il prototipo dell’attivista politico ebreo laico e di sinistra del XX secolo, che si opponeva all’egemonia etnica anglosassone e intesseva alleanze con i non ebrei che condividevano le sue idee politiche, pur continuando a mantenere la propria identità ebraica. In effetti, nel 1901 Adler ricevette un premio dal summenzionato rabbi Kohler, che osservò come Adler avesse abbracciato il nazionalismo ebraico piuttosto che il cosmopolitismo:
Un anziano rabbino riformato ed un ex critico, il dr. Kaufmann Kohler, ha affermato […] in presenza di Adler, che sebbene la Società per la Cultura Etica fosse vista all’inizio come una scissione dal giudaismo, essa era tornata alle sue radici. Kaufmann Kohler ha affermato che la Società era un prodotto della religione e della razza ebraiche, aggiungendo che lo stesso Adler aveva dichiarato agli ebrei dell’East Side, nel 1901, «di essere, nel cuore e nei sentimenti, uno di loro» […] Kohler ha affermato che l’iniziale critica del giudaismo da parte di Adler è poi maturata in amicizia. «Il nazionalismo ha preso il posto del cosmopolitismo» […] «Se la Società diventerà una forza storica permanente, essa sarà da considerarsi come una corrente di origine e carattere ebraici» […] «I grandi e nobili risultati del dr. Adler vanno ad aggiungersi ai meriti della razza e della religione e li accrescono. Il nobile idealismo e la purezza di carattere degli uomini e delle donne di questa Società scaturiscono dalla medesima fonte dalla quale l’ebreo e il cristiano traggono forza e ispirazione»151.
Lo studio da me compiuto sugli ebrei laici di sinistra mostra come essi abbiano tipicamente mantenuto un forte senso dell’identità ebraica, spesso non in forma esplicita o religiosa, ma piuttosto nella scelta degli amici e dei colleghi, del coniuge e degli atteggiamenti riguardo alle questioni ebraiche, in particolare l’antisemitismo152. Molti ebrei di sinistra che hanno negato di avere un’identità ebraica si scoprirono profondamente impegnati nei confronti giudaismo quando il nazionalsocialismo sorse in Germania, e nei confronti di Israele durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967. In generale, l’identità ebraica degli ebrei non religiosi è una faccenda complessa ed è una cosa che tende ad affiorare più facilmente nei periodi in cui viene percepita una minaccia nei confronti degli ebrei.
Israel Zangwill, l’altro sostenitore ebreo della dissoluzione etnica proposta da Kaufmann, possedeva una forte identità ebraica. Zangwill era un noto sostenitore dell’idea di un territorio nazionale ebraico e fu attivo nella politica ebraica nel corso di tutta la sua vita.
In effetti Zangwill era ben consapevole che le idee individualiste e universaliste degli anglosassoni potevano essere utilizzate nella battaglia contro le restrizioni all’immigrazione. Nel corso del dibattito sulla legge sull’immigrazione del 1924, il rapporto parlamentare di maggioranza sottolineò il ruolo degli ebrei nel definire il dibattito culturale nei termini di una superiorità nordica contrapposta agli “ideali americani” evidenziando in particolare il ruolo di Zangwill, laddove il comitato fu favorevole allo status quo etnico che alla fine venne tradotto in legge.
L’accusa di discriminazione è stata, come il comitato ritiene, costruita e montata ad arte da alcuni rappresentanti di certi gruppi razziali sostenuti da elementi stranieri che risiedono all’estero. I membri del comitato hanno notato un resoconto pubblicato sulla Jewish Tribune (New York) dell’8 febbraio 1924, relativo ad una cena di commiato in onore del sig. Israel Zangwill, in cui si dice: «Il sig. Zangwill ha parlato soprattutto della questione dell’immigrazione, dichiarando che se gli ebrei avessero insistito nella strenua opposizione alle restrizioni, queste non sarebbero state adottate. “Se farete abbastanza clamore contro questa assurdità nordica” ha affermato “sconfiggerete questa legislazione. Dovete condurre una battaglia contro questa proposta di legge; dite loro che stanno distruggendo gli ideali americani. La maggior parte delle fortezze è fatta di cartone, e se farete pressione contro di esse, cederanno»153.
Sebbene Kaufmann presenti Zangwill come un sostenitore della fusione tra tutti i gruppi razziali, la realtà è un po’ più sottile. Malgrado il suo stesso matrimonio, le idee di Zangwill riguardo ai matrimoni misti tra ebrei e gentili erano, nella migliore delle ipotesi, ambigue, ed egli detestava il proselitismo cristiano nei confronti degli ebrei. Zangwill era un ardente sionista e un ammiratore dell’ortodossia religiosa di suo padre come un modello per la preservazione del giudaismo. Egli credeva che gli ebrei fossero una razza moralmente superiore, la cui visione etica aveva dato forma alle società cristiane e musulmane e avrebbe infine dato forma al mondo, sebbene il cristianesimo rimanesse moralmente inferiore al giudaismo. Gli ebrei avrebbero conservato la loro purezza razziale se avessero continuato a praticare la loro religione: «Finchè il giudaismo fiorirà tra gli ebrei non vi sarà bisogno di parlare di salvaguardia della razza o della nazionalità; entrambe sono automaticamente preservate dalla religione»154: una visione certamente coerente con una prospettiva evoluzionista riguardo alle scritture e alle pratiche religiose ebraiche155.
Sebbene gli Stati Uniti, nell’insieme, fossero orientati ad una difesa etnica, spesso con esplicite motivazioni darwiniste, Adler fece parte di una rete di soggetti di sinistra che lavorava per minare alla base l’omogeneità culturale ed etnica del paese. Un nodo importante di questa rete fu il movimento dei Settlement House [insediamenti, n. d. t.], attivo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Gli “insediamenti” erano un’iniziativa anglosassone che esibiva un atteggiamento da noblesse oblige tuttora evidente nei circoli bianchi di sinistra. Si trattava di «residenze occupate da “operatori” della classe medio-alta, il cui profilo era quello di un giovane (maschio o femmina) anglosassone idealista sui venticinque anni, di formazione universitaria e abitante dei sobborghi»156. Il movimento rifiutava espressamente l’idea che gli immigrati dovessero rinunciare alla loro cultura ed assimilarsi all’America. «Per mettere gli immigrati (come individui) su un piano di eguaglianza simbolica con gli autoctoni, era richiesto un concetto di nazione che non violasse la dignità umana degli immigrati denigrando la loro coltura»157. Il pluralismo culturale veniva incoraggiato: «La nazione sarebbe stata esortata ad abbandonare il proprio nucleo etnico anglosassone per sviluppare una cultura di umanesimo cosmopolita annunciatrice di una solidarietà globale imminente»158.
Il capo del movimento dei Settlement House, Jane Addams, sosteneva che l’America doveva abbandonare ogni legame di fedeltà con l’identità anglosassone. Addams proveniva da un contesto quacchero liberale, un’altra corrente progressista della cultura protestante che, come il puritanesimo, derivava da una particolare subcultura britannica159. In generale, negli Stati Uniti i quaccheri sono stati meno influenti dei puritani (sebbene abbiano avuto un ruolo cruciale nel movimento antischiavista britannico che sarà esaminato nel capitolo seguente) ma i loro atteggiamenti sono stati ancor più sistematicamente progressisti di quelli degli intellettuali di ascendenza puritana che nel XIX secolo divennero un’élite intellettuale progressista dominante160. Ad esempio, John Woolman, “la quintessenza del quacchero”, fu un personaggio del Settecento che si oppose allo schiavismo, che visse modestamente e che (fatto oltremodo significativo per quanto riguarda il concetto di difesa etnica) si sentiva in colpa per la preferenza accordata ai propri bambini piuttosto che a quelli che vivevano all’altro capo del mondo161.
Un collegamento tra Jane Addams e la tradizione intellettuale puritana fu costituito dal fatto che il filosofo di
Harvard William James influenzò la Addams ed approvò le sue idee. James era membro della Ethical Culture Society di Felix Adler, che Kaufmann definisce come «la fonte del cosmopolitismo ebraico»162, e uno dei suoi studenti fu Horace Kallen, il principale teorico dell’America multiculturale (e un ardente sionista)163. James era un universalista morale: «Il progresso morale è un valore che sorpassa la sopravvivenza del gruppo», punto di vista che «riaffermava la massima fondamentale di Felix Adler secondo cui i singoli gruppi etnici avevano il dovere di sacrificare la loro esistenza al progresso dell’umanità […] Il gruppo anglosassone dominante non aveva ragioni a sostegno della propria conservazione, ma doveva piuttosto dedicarsi alla realizzazione della nuova umanità cosmopolita»164. Si trattava un fenomeno rarefatto riguardante una minoranza piccola, ma pur sempre elitaria; perfino molti operatori degli “insediamenti” credevano in un’America anglosassone e vedevano con favore le restrizioni all’immigrazione.
L’articolo del 1916 di Randolph Bourne sull’Atlantic Monthly costituisce una classica affermazione, da parte di un intellettuale anglosassone di spicco, a sostegno di un ideale multiculturale per l’America165. Bourne (che, come Kaufmann osserva, era un discepolo di Horace Kallen) ammetteva la preoccupazione per il fatto che le diverse nazionalità non si fossero fuse, ma affermava che l’America sarebbe divenuta la prima «nazione internazionale», una «federazione cosmopolita di colonie nazionali». A tutti gli altri gruppi etnici sarebbe stato permesso di mantenere la loro identità e la loro coesione; solo agli Anglosassoni si richiedeva di essere cosmopoliti. In particolare, Bourne scrisse che «non è l’ebreo, che si mantiene attaccato con fierezza alla fede dei suoi padri e vanta la sua venerabile cultura, colui che rappresenta un pericolo per l’America, ma l’ebreo che ha perduto il proprio ardore ebraico ed è diventato un puro e semplice animale avido».
Persone come Bourne, H. L. Mencken e Sinclair Lewis avevano un forte sentimento di elitarismo intellettuale e di ribellione contro l’America protestante dei piccoli centri, una ribellione individualista contro la conformità alle norme culturali molto simile a quella incontrata tra gli anarchici libertari di cui si è parlato in precedenza. Un personaggio di Main Street di Sinclair Lewis lamenta il fatto che gli abitanti delle cittadine abbiano una «formazione standardizzata […] sprezzante di ciò che è vivo […] Gente senza sapore, che trangugia cibo senza sapore […] e che si considera la più grande razza del mondo»166. Quel personaggio era moderatamente entusiasta nei confronti degli immigrati scandinavi, ma deplorava il fatto che venissero assorbiti senza lasciare traccia nella cultura protestante americana dominante.
Questi atteggiamenti si possono anche ritrovare tra gli intellettuali ebrei. Walter Lippmann definiva l’America «una nazione di paesani»167, un’avvisaglia, questa, dell’ostilità di Hollywood nei confronti dell’America dei piccoli centri168.
Il periodo della difesa etnica: 1880-1965.
Abbiamo visto come la visione dell’élite intellettuale progressista del XIX secolo fosse il prodotto della combinazione tra l’identità etnica anglosassone e un’idea ottimista di un futuro anglosassone. Verso la fine del secolo, tuttavia, quando gli intellettuali americani dovettero fare i conti con un’immigrazione di vaste proporzioni dall’Europa meridionale e orientale, tale visone ottimista del futuro anglosassone fu via via più difficile da difendere, specialmente perché un gran numero di immigrati era (correttamente) visto come politicamente radicale e inassimilabile. I decenni che precedettero l’approvazione della legge sull’immigrazione del 1924 e quelli successivi costituirono un periodo di difesa etnica. Una visione ottimista e progressista dell’immigrazione continuò ad esistere presso un piccolo gruppo di intellettuali, ma questi erano politicamente impotenti. Tra molti intellettuali favorevoli alle restrizioni, il darwinismo prese il posto del lamarckismo.
Il risultato fu un’efficace alleanza tra gli intellettuali dell’élite formatasi nelle università delle Ivy League e di origine puritana con i bianchi di estrazione rurale del Sud e dell’Ovest, al fine di impedire che l’America venisse sommersa dall’immigrazione. «Ogni qualvolta l’élite WASP del Nordest fa causa comune con i suoi parenti meno prestigiosi ma più numerosi della provincia, il nazionalismo etnico anglo-protestante risorge»169. Questa alleanza, durata fino all’approvazione della legge del 1965 che aprì le porte dell’immigrazione a qualunque popolo, indica che malgrado la corrente progressista della cultura WASP possono verificarsi dei cambiamenti quando le idee progressiste e cosmopolite siano viste come causa di conseguenze negative, cioè quando si dimostra che l’ottimismo ottocentesco, che considerava immigrati gente «come noi», è privo di garanzie. Similmente, nell’epoca presente, i bianchi americani si stanno coagulando attorno al Partito Repubblicano, non sulla base tradizionale dell’appartenenza di classe, ma come effetto di una comune identità etnico-razziale e di un crescente scetticismo circa i benefici dell’immigrazione.
Questo accresciuto pessimismo riguardo alle idee cosmopolite si può notare nelle osservazioni di un ministro del culto congregazionalista che nel 1885 scriveva:
L’ottimismo politico è uno dei vizi del popolo americano […] Ci consideriamo un popolo eletto e tendiamo a credere che l’Onnipotente sia garante della nostra prosperità. Fino a pochi anni fa probabilmente non una persona su cento tra noi avrebbe mai messo in dubbio la sicurezza del nostro futuro. Un tale ottimismo è altrettanto privo di senso quanto il pessimismo è privo di fede170.
Gli atteggiamenti ottimisti e liberali diminuirono, e i pensatori protestanti cominciarono a schierarsi dalla parte del lavoro piuttosto che da quella del capitale perché sentivano la necessità di una coesione sociale. Con gli anni 1890 la necessità di restrizioni all’immigrazione era «universalmente accettata»171 tra i battisti, e tendenze analoghe erano evidenti in altre denominazioni protestanti, inclusi i congregazionalisti elitari e di inclinazione progressista. Fedeli alla loro tendenza universalista, i protestanti non si opposero all’immigrazione fino a che non si resero conto che i nuovi immigrati non erano passibili di conversione. Kaufmann osserva che gli interessi affaristici continuarono ad opporsi alle restrizioni all’immigrazione, ma dimentica di menzionare il notevolissimo ruolo che le organizzazioni ebraiche giocarono nel ritardare tali restrizioni fino agli anni 1920, molto tempo dopo che la pubblica opinione si era espressa a favore di esse172. Di tutti i gruppi interessati dalla legislazione sull’immigrazione del 1907, gli ebrei erano quello che aveva meno da guadagnare quanto al numero dei possibili immigrati, e tuttavia essi rivestirono il ruolo di gran lunga più importante nel dar forma alla legislazione173. Nel periodo seguente, che culminò con la legislazione restrittiva relativamente inefficace del 1917, quando i fautori delle limitazioni fecero un tentativo al Congresso, «soltanto il segmento ebraico si mise in movimento»174. Scrivendo nel 1914, il sociologo Edward A. Ross era convinto che la politica progressista sull’immigrazione fosse una questione esclusivamente ebraica:
Per quanto la loro non costituisca che un settimo della nostra immigrazione netta, essi hanno guidato la battaglia sulla proposta di legge della Commissione per l’Immigrazione. Il potere di milioni di ebrei della Metropoli ha organizzato la delegazione al Congresso di New York in una solida opposizione al test di alfabetizzazione. La campagna sistematica sui giornali e sulle riviste per demolire tutti gli argomenti in favore delle restrizioni e per placare la paure dei nativisti è condotta da una sola razza e soltanto nell’interesse della stessa. Il denaro ebraico sta dietro alla National Liberal Immigration League [Lega Nazionale Progressista per l’Immigrazione, n. d. t.] e alle sue numerose pubblicazioni. Dagli articoli che leggono i commercianti o le associazioni scientifiche, fino ai corposi trattati prodotti con le sovvenzioni del fondo del barone De Hirsch, la letteratura che mostra i benefici dell’immigrazione per tutte le classi di americani scaturisce da acuti cervelli ebraici175.
Come risultato in gran parte di questo attivismo, inclusi l’accesso ai mezzi di informazione e una struttura pro-immigrazione ben finanziata, una proposta di legge restrittiva fu promulgata soltanto nel 1924, anche se già nel 1890 era presente un sostegno popolare a tale misura. In questo lasso di tempo, 20 milioni di immigrati erano arrivati negli Stati Uniti176, compresi 2 milioni di ebrei provenienti dall’Europa orientale. Kaufmann attribuisce l’ascesa del sentimento restrizionista alle preoccupazioni del Social Gospel [Vangelo
Sociale, n. d. t.] diffuse tra le persone religiose. Il movimento del Social Gospel
galvanizzò il processo di chiusura etnica facendo in modo che le menti dei protestanti si concentrassero sui fattori sociali di questo mondo, come il sorgere delle città industriali, il conflitto tra capitale e lavoro e il bisogno di legislazione, forze che tradizionalmente erano stati restii a prendere in considerazione177.
Ma l’attribuisce anche alla consapevolezza del fatto che i nuovi immigrati non si sarebbero convertiti al protestantesimo, nonché al diffondersi delle teorie razziali, per quanto non prenda realmente in esame quest’ultimo aspetto.
La mancata considerazione delle teorie razziali è un’omissione grave, perché queste teorie conoscevano una diffusa accoglienza tra gli americani istruiti che detenevano posizioni nel mondo accademico e nei mezzi di informazione. A cominciare dal 1900 circa furono le teorie razziali basate sul darwinismo, piuttosto che la religione, ad occupare una posizione di preminenza nell’ambito accademico.
Quando [Franz] Boas cominciò il suo lavoro in America, l’evoluzionismo era il paradigma dominante (addirittura “egemone”) nell’antropologia, nella sociologia e nell’economia politica. Gli intellettuali della sinistra politica erano coinvolti nell’evoluzionismo quanto lo erano quelli di destra […] Oltre all’evoluzionismo, anche il determinismo razziale e il darwinismo sociale erano in ascesa […] e ciò toccò ancor più le emozioni e gli interessi socioeconomici delle élite americane ed europee. Questa fu l’epoca dell’approvazione delle leggi Jim Crow, quelle sulla segregazione razziale, e delle agitazioni contro i negri e contro gli stranieri. Comunque, malgrado il radicamento [di queste tendenze, n. d. t.] nella vita intellettuale e politica americana ed europea, Boas, un nuovo immigrato, cominciò virtualmente da solo a combatterle tutte dal principio stesso della sua carriera, attingendo alla sua visione dell’umanità e alla sua scienza. Non furono forse questi degli atti politici?178
In effetti lo furono, e la loro influenza ha avuto un profondo effetto sulle teorie accademiche della razza e della cultura, e di conseguenza sul declino dell’America bianca179.
La posizione di rilievo occupata dalle teorie darwiniane sulla razza non si limitava agli Stati Uniti. Tali teorie esercitarono anche un’influenza sugli intellettuali europei, compresi Benjamin Disraeli, Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain, Gustave Le Bon, Herbert Spencer e un gran numero di teorici della razza ebrei in gran parte collegati al sionismo180.
Questo quadro teorico darwinista divenne il bersaglio di un’élite ebraica emergente a cominciare dell’opera pionieristica di Boas. Quello che segue è un commento sull’ambiente intellettuale degli ufficiali militari statunitensi agli inizi del XX secolo:
Il cristianesimo fu un aspetto profondamente radicato nella cultura degli americani di origine nordeuropea, ma ebbe un ruolo considerevolmente ridotto nello scontro con l’élite ebraica emergente. Assai più importanti, ai fini di questo scontro, furono le teorie darwiniane sulla razza. La parte iniziale del XX secolo fu l’epoca di massimo splendore del darwinismo nel campo delle scienze sociali. Era cosa comune, all’epoca, pensare che esistessero importanti differenze tra le razze sia per quanto riguarda l’intelligenza che per quanto attiene alle qualità morali. Non solo le razze differivano tra loro: esse erano anche in competizione per la supremazia.
Educata alle teorie di Madison Grant, Lothorp Stoddard, Henry Pratt Fairchild, William Ripley, Gustave Le Bon, Charles Davenport e William McDougall, questa generazione di ufficiali militari statunitensi [come le altre élite americane] si considerava appartenente ad una razza particolare e credeva che l’omogeneità razziale fosse la condizione sine qua non di ogni stato-nazione stabile. Essi consideravano il proprio gruppo razziale come dotato di qualità uniche e di un elevato senso morale. Ma, cosa più importante, qualunque fossero i talenti e i punti deboli della razza, essi ritenevano della massima importanza mantenere il controllo dei territori che avevano ereditato quale risultato delle imprese dei loro antenati che avevano conquistato il continente e domato la natura selvaggia. E malgrado il potere che la loro razza deteneva al momento presente, i presentimenti riguardo al futuro erano oscuri, come si ricava dai titoli di alcune opere classiche dell’epoca: The Passing of the Great Race [La morte della grande razza, n. d. t.], The Rising Tide of Color Against White
World Supremacy [L’ascesa della marea di colore contro la supremazia mondiale bianca, n. d. t.] e The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man [La rivolta contro la civiltà: la minaccia dell’uomo inferiore, n. d. t.] di Stoddard181.
Membri dell’élite come Henry Cabot Lodge e Madison Grant, che discendevano dai puritani, esaltavano le virtù dei nordeuropei e finanziavano il movimento che intendeva porre fine all’immigrazione, una battaglia che terminò con la legge di difesa etnica del 1924, che si basava sullo status quo etnico del 1890. A. Lawrence Lowell, rettore di Harvard, vicepresidente della Lega per la limitazione dell’immigrazione e discendente di puritani, si oppose alla nomina di Luois Brandeis a giudice della Corte Suprema a motivo dell’ardente sionismo di Brandeis; fu anche favorevole alla definizione di quote per gli studenti ebrei (il 15%, quota generosa visto che gli ebrei erano il 5% della popolazione); sostenne anche la segregazione razziale e fu contrario all’omosessualità.
Le idee riguardanti l’eugenetica, il pacifismo razzialmente motivato e la fiducia nel potere dei finanzieri internazionali erano considerate all’epoca del tutto rispettabili. Nella sua biografia di Henry Ford, Neil Baldwin riferisce del viaggio di Ford alla Costa Occidentale, nel 1915, per partecipare alla “Conferenza sul Miglioramento della Razza” di San Francisco182. L’evento attrasse l’élite economica e intellettuale dell’epoca. Tra i relatori vi erano Luther Burbank, il famoso selezionatore di piante, David Starr Jordan, primo rettore di Stanford e prolifico scrittore su temi culturali, e Charles Elliot, preside di Harvard. Tra i presenti, il famoso inventore Thomas Edison e milionari come John Harvey Kellogg (fondatore dell’omonima azienda di commercializzazione dei cereali) e Harvey Firestone (fondatore dell’omonima azienda di produzione di pneumatici).
Nell’ambito di questa élite, gli atteggiamenti antiebraici erano comuni. Ford finanziò The International Jew [L’ebreo internazionale, n. d. t.] (di cui si parlerà più avanti), una serie di saggi originariamente pubblicati tra il 1920 e il 1922 che si concentravano sulla descrizione del comportamento degli ebrei e ne documentavano l’influenza. Ford divenne la guida del movimento per la pace durante al Prima Guerra Mondiale, e rivolgendosi a un altro pacifista affermò che «i banchieri ebreo-tedeschi hanno provocato la guerra»183. Jordan era un eugenista che sosteneva la pace per ragioni razziali, ossia perché la guerra avrebbe decimato gli individui forti impoverendo il bacino genetico. Jordan, che scriveva nel 1912, elaborò anche l’idea secondo cui i manipolatori della finanza, in maggioranza ebrei, stavano portando l’Europa alla guerra. Egli descrisse un «impero invisibile» della finanza internazionale, in gran parte composto da aziende bancarie ebraiche originatesi coi Rothschild. Dietro a queste aziende vi erano famiglie ebraiche «alleate l’una all’altra mediante innumerevoli legami di sangue, matrimonio e affari» che comprendevano i Bischoffheim (Francia), i Bleichröder (Germania), i Camondo (Italia), i Goldschmid e gli Stern (Inghilterra e Portogallo), i Günzberg (Russia), gli Hirsch e i Wertheimer (Austria), i Cassell (Europa ed Egitto), i Sassoon (i “Rotschild dell’Oriente”), i Mendelsshon e i Montefiore (Australia)184.
Il fatto che Kaufmann non prenda in esame l’eclissi del darwinismo razziale costituisce una grave omissione, perché la sconfitta di quel quadro teorico fu un successo di primaria importanza dei movimenti intellettuali e politici ebraici, e in particolare dell’antropologia boasiana:
[La sconfitta del darwinismo] non si sarebbe verificata senza una considerevole esortazione, rivolta a tutti, a battersi per ciò che è “Giusto”. Né si sarebbe compiuta senza certe pressioni alquanto forti esercitate sia nei confronti degli amici devoti sia verso i “fratelli più deboli”, spesso attraverso la sola forza della personalità di Boas185.
Nel 1915 i boasiani controllavano l’Associazione Antropologica Americana e avevano la maggioranza dei due terzi nel suo consiglio d’amministrazione. Nel 1926 ognuno dei principali dipartimenti di antropologia era diretto da allievi di Boas, la maggior parte dei quali era ebrea. In base alle idee boasiane di relativismo culturale (che alla fine confluirono nella visione secondo la quale la razza non era nient’altro che un costrutto sociale, senza alcuna base biologica) questi teorici promossero il pluralismo culturale nelle università. Come ha osservato Gelya Frank, il pluralismo culturale come modello per le società occidentali è stato il «tema invisibile» dell’antropologia americana, invisibile perché le identità e gli interessi etnici dei suoi sostenitori sono stati mascherati da un linguaggio scientifico nel quale tali identità e interessi erano pubblicamente illegittimi186.
The International Jew di Ford contiene materiale interessante sulla crescita dell’influenza ebraica, che ritengo sia credibile187. Criticare pubblicamente tale influenza stava diventando impossibile:
C’è la vaga sensazione che anche utilizzare apertamente la parola “ebreo”, o esporla nuda e cruda sulla carta stampata sia in qualche modo inappropriato […] Vi è un’estrema sensibilità riguardo al fatto che i gentili discutano pubblicamente della questione ebraica. Preferirebbero mantenerla nella nebbiosa terra di confine del loro pensiero, avvolta nel silenzio […] I principali pronunciamenti pubblici sulla questione ebraica avvengono secondo la maniera ossequiosa dei politici o dei piacevoli conversatori dei dopo cena; si fanno i nomi dei grandi ebrei nel campo della filosofia, della medicina, della letteratura, della musica e della finanza; ci si sofferma sull’energia, sull’abilità e sulla parsimonia della razza; e ciascuno se ne torna a casa con la sensazione che una questione difficile sia stata affrontata in maniera appropriata188.
Chiunque tenti di discutere la questione ebraica negli Stati Uniti o altrove dev’essere pienamente preparato ad essere considerato un antisemita, per usare un linguaggio elevato, o un persecutore di ebrei, in termini più correnti […] La stampa in generale, di questi tempi, è aperta agli articoli smaccatamente favorevoli a tutto quanto sia ebreo […], mentre la stampa ebraica, che è piuttosto considerevole negli Stati Uniti, si occupa degli aspetti diffamatori189.
Il libro di Joseph Bendersky dal titolo The “Jewish Threat”: Anti-Semitic Politics of the U.S. Army [La “minaccia ebraica”: la politica antisemita nell’esercito degli Stati Uniti, n. d. t.] contiene preziose informazioni sul declino delle idee razziali. L’atteggiamento di opposizione alle basi intellettuali della difesa etnica conobbe una svolta negli anni 1930. «L’ideologia razziale nazista vennne attaccata dalla stampa come pseudo-scienza e intolleranza fanatica»190. In quest’epoca gli ebrei detenevano una posizione di potere nei mezzi di informazione che includeva la proprietà di molti grandi e influenti giornali (New York Times, New York Post, New York World, St. Louis Post-Dispatch, Washington Post, Philadelphia Inquirer, Philadelphia Record e Pittsburg Post-Gazette), di reti radiofoniche (CBS, la rete dominante, e NBC) e di tutti i più importanti studi cinematografici di Hollywood191.
E’ degno di nota il fatto che la parola “nordico” fosse scomparsa negli anni Trenta, sebbene i restrizionisti avessero ancora una visione razziale degli ebrei e di se stessi192. Col 1938 l’eugenetica, un’idea comune a tutte le tendenze politiche agli inizi del secolo, fu «evitata nei pubblici discorsi dell’epoca»193 per il suo collegamento col nazionalsocialismo.
La visione razziale che era stata diffusa negli anni Venti persistette tra gli ufficiali militari americani fino agli anni Trenta inoltrati. Una conferenza tenuta nel 1938 dal generale George van Horn Moseley sull’eugenetica e le sue implicazioni per la politica sull’immigrazione scatenò lo scompiglio quando venne riportata dai giornali. Moseley venne accusato di antisemitismo sebbene negasse di far riferimento agli ebrei con le sue parole. L’incidente si sgonfiò, ma «da allora in poi i militari decisero di proteggersi dalle accuse di antisemitismo che avrebbero potuto infangare la loro reputazione o causare problemi politici […] Le forze armate si presentarono pubblicamente come un’istituzione che non avrebbe tollerato né razzismo né antisemitismo»194.
Moseley, dal canto suo, continuò ad attaccare il New Deal, sostenendo che fosse manipolato dagli «elementi alieni che sono tra noi»195, chiaramente un riferimento velato agli ebrei. In tale occasione subì una severa reprimenda, e la stampa non lasciò cadere la cosa. All’inizio del 1939 Moseley, che era andato in pensione, divenne esplicitamente antisemita, affermando che gli ebrei volevano che gli Stati Uniti prendessero parte a una probabile guerra con la Germania e che quella guerra sarebbe stata intrapresa in funzione dell’egemonia ebraica. Accusò gli ebrei di controllare i mezzi di informazione e di esercitare una forte influenza sul governo. Nel 1939 egli testimoniò di fronte al comitato parlamentare sulle attività antiamericane riguardo alla complicità degli ebrei con il comunismo e lodò i tedeschi per aver trattato gli ebrei in maniera appropriata196.
Ma la sua testimonianza, a quell’epoca, era già oltre il limite del consentito. Come osserva Bendersky, Moseley aveva semplicemente espresso il comune punto di vista darwinista delle generazioni precedenti e aveva espresso la comune credenza che vedeva un’associazione tra ebrei e comunismo. Queste idee erano ancora diffuse nelle forze armate e nell’ambito della destra politica: semplicemente non venivano espresse in pubblico. Se questo accadeva, le teste cadevano e le carriere finivano.
Il nuovo clima si può anche riconoscere dal fatto che Lothorp Stoddard smise del tutto di riferirsi agli ebrei nelle sue conferenze tenute presso il Collegio Militare delle Forze Armate alla fine degli anni Trenta, ma continuò a sostenere l’eugenetica e a simpatizzare per il nazionalsocialismo in quanto prendeva sul serio la nozione di razza. Col 1940 la situazione di era capovolta. Gli atteggiamenti antiebraici cominciarono ad essere considerati sovversivi dal governo e l’FBI avvertì i servizi di informazione militari che Lothorp doveva essere sottoposto ad indagine poiché rappresentava un rischio per la sicurezza in caso di guerra197. Dal punto di vista di Bendersky questi mutamenti erano dovuti in larga misura al trionfo della scienza: «La scienza razziale di Stoddard non era soltanto errata, essa era (malgrado lui affermasse il contrario) fuori tempo rispetto alle tendenze principali della scienza e del sapere»198. Ciò che Bendersky non nota è che la confutazione “scientifica” delle idee di Stoddard e di altri teorici darwinisti era dovuta esclusivamente ad una campagna politica intrapresa nei dipartimenti di scienze sociali delle università da Franz Boas e dai suoi studenti e simpatizzanti. La natura politica di questo mutato atteggiamento intellettuale e il suo collegamento con gli attivisti etnici ebrei nell’ambito accademico sono noti da tempo agli studiosi199.
Questo rappresenta un esempio eccellente di come l’università sia un centro di potere di primaria importanza. L’attivismo di Boas ebbe come risultato che le idee antidarwiniane vennero dichiarate scientificamente fondate dai mezzi di informazione più prestigiosi e diffuse tra le persone colte nelle università. Come ha osservato John Higham, all’epoca della sua vittoria nel 1965 che portò ad escludere le origini nazionali e razziali dalle decisioni in materia di immigrazione e all’apertura all’ingresso di tutti i gruppi umani, la prospettiva boasiana del determinismo culturale e dell’antibiologismo era diventata il criterio normativo della conoscenza accademica. Il risultato fu che «divenne una moda intellettuale ignorare la stessa esistenza di persistenti differenze etniche. Questa reazione, nel suo insieme, privò i sentimenti popolari sulla razza di una potente arma ideologica»200.
La scomparsa del darwinismo ebbe conseguenze di primo piano, in quanto con essa venne meno l’unica fonte intellettualmente praticabile di opposizione all’ideologia cosmopolita e a un modello dell’America basato sul pluralismo culturale. In mancanza di una difesa rispettabile sul piano intellettuale, la difesa etnica fu lasciata alla religione conservatrice e agli atteggiamenti popolari delle persone meno colte. Costoro non poterono competere con gli intellettuali cosmopoliti che rapidamente si sistemarono in tutte le istituzioni d’élite degli Stati Uniti e soprattutto nel mondo dell’informazione e in quello accademico.
L’ascesa ad una posizione di primo piano di quella che ora si delineava come una scena intellettuale a dominanza ebraica segnò il destino degli intellettuali di ascendenza puritana di cui abbiamo parlato. Questa tradizione intellettuale di origine puritana fu vittoriosa contro la tradizione aristocratica del Vecchio Sud, ma non potè competere con l’élite ebraica emergente, che già negli anni Trenta era divenuta molto influente. Con gli anni Sessanta questa nuova élite era diventata egemone in settori critici della vita americana, e in particolare nei mezzi di comunicazione, nelle scienze sociali, nelle professioni giuridiche e come finanziatrice di campagne e cause politiche. Un posto di primo piano nell’agenda di questa élite era occupato dall’immigrazione, concepita in termini di sostituzione. Nel 1965 l’America venne aperta a tutti i popoli del mondo. Nei decenni seguenti questo mutamento culturale ebbe come conseguenza una costante diminuzione del potere e dell’influenza delle popolazioni e delle culture di origine europea in America.
Conclusione.
L’eredità puritana nella cultura americana è da ritenersi nociva perché una volta che gli intellettuali e l’élite finanziaria di origine puritana furono spodestati, il loro idealismo morale e la loro inclinazione alla punizione altruistica rimasero vulnerabili allo sfruttamento da parte di movimenti intellettuali e politici che miravano a sostituire la popolazione originaria degli Stati Uniti. L’attuale sinistra politica e intellettuale (che è un prodotto della controrivoluzione culturale posteriore al 1965) si basa sostanzialmente su una critica morale alla società tradizionale americana che mira a sradicare il potere della sua maggioranza di origine europea e a ridurla ad una minoranza demografica relativamente impotente. Nell’epoca in cui questo lavoro viene scritto, qualunque identificazione di gruppo da parte dei bianchi è stata patologizzata, per effetto della scuola boasiana, della Scuola di Francoforte e delle loro derivazioni che sono diventate la base intellettuale delle nuove élite201.
Disponendo di una considerevole esperienza nel mondo universitario, posso attestare di essermi sentito come un ostinato eretico del Massachusetts del XVII secolo quando ho dovuto confrontarmi, come mi è spesso accaduto, con la polizia del pensiero accademica. Quello che salta all’occhio è il fervore morale di questa gente. Il mondo accademico è diventato una congregazione puritana che pratica un soffocante controllo del pensiero imposto da condanne morali che un ministro del culto puritano difficilmente avrebbe potuto superare. Per la mia esperienza, questo controllo del pensiero è assai peggiore nei college e nelle università d’élite fondate dai puritani che in qualunque altro ambito del mondo accademico, cosa che serve a ricordare la persistente influenza del puritanesimo nella vita americana.
Il problema dei trascendentalisti e degli altri idealisti e perfezionisti morali del XIX secolo è che essi comparvero sulla scena prima che le loro intuizioni potessero essere esaminate alla fredda luce della moderna scienza evoluzionista. Privi di una solida base scientifica, essi abbracciarono un universalismo morale che alla fine si dimostrò rovinoso per quelli come loro: come conseguenza dell’ascesa dei movimenti intellettuali ebraici e dell’influenza politica e culturale degli ebrei nel XX secolo, la persistente eredità dell’universalismo morale puritano, nel contesto di un’immigrazione multietnica che ha raggiunto livelli di sostituzione tra popoli, è stata utilizzata contro la popolazione bianca americana contemporanea.
E siccome la perdita dell’egemonia demografica e culturale sperimentata dalle popolazioni di origine europea è nettamente contraria alle predisposizioni umane derivanti dall’evoluzione, il loro universalismo morale necessita di essere continuamente rafforzato mediante tutto il potere dei mezzi di informazione, del sistema educativo e, in definitiva, dello stato, proprio come le rigorose regole dei puritani di un tempo richiedevano una costante sorveglianza da parte delle autorità. Difatti, man mano che la sinistra universalista e anti-bianca assume un controllo sempre più ampio, assistiamo alla censura del pensiero eterodosso nelle università e alla proliferazione della coercizione di uno stato di polizia onde assicurare la conformità dei pensieri e delle azioni; tutte cose che ricordano molto il Massachusetts puritano.
Certamente, i trascendentalisti avrebbero rifiutato una simile analisi “positivista”. Si potrebbe notare come la psicologia moderna sia dalla loro parte, poiché concorda sul fatto che le ideologie esplicitamente professate sono in grado di esercitare un controllo sulle parti più antiche del cervello, comprese quelle responsabili dell’etnocentrismo202. La convinzione dei trascendentalisti secondo la quale la mente è creativa e non si limita semplicemente a rispondere agli eventi esterni è piuttosto accurata alla luce della moderna ricerca psicologica. In termini moderni, i trascendentalisti affermavano sostanzialmente che qualunque fossero «i desideri animali dell’uomo» (per citare Emerson) gli esseri umani sono in grado di immaginare un mondo ideale e di esercitare un considerevole controllo psicologico sul loro etnocentrismo e sui loro desideri derivanti dall’evoluzione203.
Come i loro antenati puritani, i trascendentalisti avrebbero senza dubbio riconosciuto che alcune persone hanno difficoltà a controllare quelle tendenze. Ma questo non è un vero problema, perché tali persone possono essere costrette ad uniformarsi. La Nuova Gerusalemme può diventare una realtà se le persone sono disposte ad usare lo stato per imporre le norme di pensiero e di comportamento del gruppo. In effetti la Nuova Gerusalemme multiculturale non può diventare una realtà senza che venga soppresso il desiderio naturale di un gran numero di bianchi di controllare il loro destino.
La differenza principale tra la Nuova Gerusalemme dei puritani e quella multiculturale attuale è che quest’ultima porterà alla scomparsa della stessa popolazione bianca che costituisce il sostegno dell’attuale Zeitgeist multiculturale. A differenza della Nuova Gerusalemme dei puritani, la sua versione multiculturale non sarà controllata da persone come loro. Alla lunga esse diventeranno una esigua minoranza, relativamente priva di potere.
L’ironia finale è che senza i bianchi altruisti disposti a sentirsi moralmente offesi dalle violazioni degli ideali multiculturali, la Nuova Gerusalemme che su tali ideali si fonda si trasformerà probabilmente in una lotta darwinista per la sopravvivenza tra coloro che rimarranno. Ma i discendenti benpensanti dei puritani non saranno lì ad assistere alla scena.
Note.
- La ricerca sulla genetica delle popolazioni non fornisce prove di differenze genetiche tra l’Inghilterra centrale e quella meridionale, sebbene vi siano differenze tra queste aree ed altre aree del Regno Unito. Gli autori suggeriscono che ciò potrebbe essere la conseguenza di movimenti recenti all’interno di questa regione ed essere pertanto coerente con la presenza di gradienti genetici ad esempio tra l’East Anglia e altre aree dell’Inghilterra centrale e meridionale nel XVII secolo. I gruppi continentali europei che contribuirono maggiormente alla costituzione della stirpe britannica furono quelli provenienti dalla Germania occidentale, dalla Francia nordoccidentale e dal Belgio, con i sassoni che rappresentano tra il 10% e il 40 % della popolazione dell’Inghilterra centrale e meridionale e altri gruppi (inclusi i danesi) non distinguibili, cosa che forse suggerisce ancora recenti migrazioni all’interno dell’area. Cfr. Stephen LESLIE et al., Fine Scale Genetic Structure of the British Population, “Nature”, 519, n. 7534, 19 marzo 2015: 309-314.
- Kevin PHILLIPS, The Cousins’ Wars: Religion, Politics and the Triumph of Amglo-America, New York, Basic Books, 1999: 26.
- Ibid., 27.
- Si vedano i capitoli 3 e 4.
- David Sloan WILSON, Darwin’s Cathedral: Evolutionm Religion and the Nature of Society, Chicago,University of Chicago Press, 2002.
- Kevin MACDONALD, Human intelligence as a Domain General Psychological Adaptation, in Joseph P.
KUSH (ed.), Intelligence Quotient: Testing, Role of Genetics and the Environment and Social Outcomes, Hauppauge, NY, Nova Science Publishers. Inc., 2013: 35-54.
- WILSON, Darwin’s Cathedral, 96.
- Si veda la sezione del cap. 5 intitolata Processo implicito ed esplicito: come l’ideologia motiva il comportamento, che esamina l’ideologia da un punto di vista evoluzionista concentrandosi sulle conseguenze motivazionali dell’ideologia religiosa cristiana.
- W. BERNARD, The Dissolution of the Monasteries, “History”, 96, ottobre, 2011: 390-409.
- WILSON, Darwin’s Cathedral, 107.
- John T. MCNEILL, The History and Character of Calvinism, Oxford, Oxford University Press, 1954:
100.
- David HACKETT FISCHER, Albion’s Seed: Four British Folkways in America, New York, Oxford University Press, 1989: 25.
- Ibid., 71.
- Ibid., 27. [15] Ibid., 17.
- Alden T. VAUGHN, The Puritan Tradition in America, 1620-1730, ed. rived., Hanover and London, University Press of New England, 1997: xv.
[16a] N.d.t.: bastone da corteggiamento.
- FISCHER, Albion’s Seed, 70, 81.
- Kevin PHILLIPS, The Cousins’ Wars: Religion, Politics and the Triumph of Amglo-America, New York, Basic Books, 1999: 27.
- FISCHER, Albion’s Seed, 49.
- Ibid., 38
- Ibid., 26.
[21a] N. d. t.: Chandler: commerciante (o fabbricante di candele); Cooper: ramaio, calderaio; Courier: corriere; Cutler: coltellinaio; Draper: drappiere; Fletcher: fabbricante di frecce; Gardiner: giardiniere, ortolano; Glover: guantaio, Mason: muratore; Mercer: merciaio; Miller: mugnaio; Sawyer: segatore; Saddler: sellaio; Sherman: cimatore (di tessuti in lana); Thatcher: costrutture di tetti in paglia; Tinker: calderaio, stagnaio; Turner: tornitore; Waterman: barcaiolo; Webster: tessitore; Wheelwright: carraio].
- PHILLIPS, The Cousins’ Wars, 27.
- FISCHER, Albion’s Seed, 133.
- VAUGHN, The Puritan Tradition in America, 1620-1730, xiv.
- In Ibid., 248.
[25a] N.d .t.: Be-corteous: Sii cortese; Fight-the-good-fight-on-faith: Combatti-la-buona-battaglia-per-lafede; Kill-sin: Ammazzapeccato; Mortify: Mortifica, umilia (-ti).
- FISCHER, Albion’s Seed, 97.
[26a] N. d. t.: Fly Fornication: Fuggi la fornicazione; Goodman Goodman: Brav’uomo Brav’uomo.
- VAUGHN, The Puritan Tradition in America, 1620-1730, xiii.
- Robert TOMBS, The English and Their History, London, Penguin Books, 2015, ed. orig. London, Allen Lane, 2014: 236.
- FISCHER, Albion’s Seed, 202.
- VAUGHN, The Puritan Tradition in America, 1620-1730, 179.
- In Ibid., 143-144, corsivo nell’originale.
- In Ibid., 174-175.
- Ibid., 93.
- Ibid., 89.
- In Ibid., 245.
- Ibid., 261-262.
- In Ibid., 268.
- Ibid., 271
- In Ibid., 194.
- In Ibid., 199.
- Ibid., 297.
- Si veda W. P. ALLEN, Theodore Mommsen, “The North American Review”, 111, n. 229, 1870: 445-465, 457; www.jstor.org/stable/25109578.
- VAUGHN, The Puritan Tradition in America, 1620-1730, 298.
- Ibid., 298.
- François GUIZOT, Histoire de la Civilisation en Europe depuis la Chute de l’Empiere roman jusqu’à la Révolution Francaise, Paris, Didier, 1847: 344; citato in TOMBS, The English and Their History, 465.
- TOMBS, The English and Their History, 155.
- Ibid., 111.
- FRASER, The WASP Question, 113.
- Ibid., 117.
- TOMBS, The English and Their History, 255.
- Ibid., 247; citazione nel testo da Cromwell.
- FRASER, The WASP Question, 122.
- Ibid., 156; si veda anche TOMBS, The English and Their History, 366-367.
- FRASER, The WASP Question, 27.
- Ibid., 254.
- Ibid., 294-295.
- FISCHER, Albion’s Seed, 357.
- VAUGHN, The Puritan Tradition in America, 1620-1730, 20.
- PHILLIPS, The Cousins’ Wars, 477.
- Ibid., 556.
- Ernest Lee TUVESON, Redeemer Nation: The Idea of America’s Millennial Role, Chicsgo, University of Chicago Press, 1968: 199.
- Agli inizi del XX secolo Mark Twain, in alcune note per un saggio che aveva in progetto di scrivere, commentò: «[Il barone ladro Jay] Gould fece seguito al male dei nuovi ricchi della Guerra Civile & Cal. [Califonia] con un male ancora peggiore […] truffando e comprando i tribunali»; citato in TUVESON, Ibid., 208.
- Ibid., 209. [64] Ibid., 212.
- Philip F. GURA, American Transcendentalism: A History, New York, Hill and Wang, 2007.
- Kevin MACDONALD, The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements, Bloomington, IN, AuthorHouse, 2002; pubblic. origin.: Westport, CT, Praeger, 1998, cap. 3.
- GURA, American Transcendentalism, 121.
- Ibid., 84.
- Ibid., 18.
- Citazione da Ralph Waldo Emerson in Ibid., 15.
- Ibid., 266.
- Citato in Ibid., 138-139.
- Citato in Ibid., 139.
- Ibid., 80.
- Ibid., 143.
- Ibid., 156.
- Ibid., 85.
- Ibid.
- Citato in Ibid., 103.
- Ibid., 143.
- Citato in Ibid., 219.
- Voce “Theodore Parker” in Dictionary of Unitarian & Universalist Biography; http://uudb.org/articles/theodoreparker.html [83] In TUVESON, Redeemer Nation, 153.
- GURA, American Transcendentalism, 228.
- GURA, American Transcendentalism, 137.
- In Ibid., 216.
- Ibid., 245.
- Ibid., 246.
- In Ibid., 260. [90] In Ibid., 265.
- E. BRADFORD, Dividing the House: The Gnosticism of Lincoln’s Political Rhetoric, “Modern Age”, inverno 1979: 10-24, 13.
- TUVESON, Redeemer Nation, 139.
- BRADFORD, Dividing the House, 17-18.
- Lincoln, citato in BRADFORD, Ibid., 19.
- Ibid., 53.
- Ibid., 67.
- Ibid., 68.
- GURA, American Transcendentalism, 271.
- In Ibid., 302.
- In Ibid.
- In Ibid., 304-305.
- Citato in FRASER, The WASP Question, 299.
- Kevin MACDONALD, Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of AntiSemitism, Bloomington, IN, 1stbooks Library, 2004 (ed. orig. Westport, CT, Praeger, 1998), cap. 5.
- Josiah STRONG, The New Era, or the Coming Kingdom, New York, The Baker and Taylor Co., 1893: 354. Strong fu un noto pensatore protestante. Il suo messaggio nell’opera The New Era fu che per affrontare i problemi delle città e delle classi lavoratrici era necessaria una rinascita del cristianesimo (TUVESON, Redeemer Nation, 137). Ciò riflette il calo di ottimismo caratteristico della fine del XIX secolo e derivante dalle preoccupazioni riguardo all’immigrazione che culminarono nella legge restrittiva del 1924. Se ne parlerà più avanti, nella sezione dal titolo Il periodo della difesa etnica: 1880-1965.
- Eric P. KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, Cambridge, Harvard University Press, 2004:
18.
- Ibid., 17-18, corsivo nell’originale.
- In M. E. BRADFORD, A Better Guide Than Reason: Federalists and Anti-Federalists, New Brunswick, NJ, Transaction, 1994 (ed. orig. 1979): 194.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 22.
- Si veda Paul Wolff MITCHELL, The Fault in His Seeds: Lost Notes to the Case of Bias in Samuel George Morton’s Cranial Racial Science, “PLOS Biology”, 4 ottobre 2018, senza numeri di pagina. Mitchell ha confermato l’accuratezza delle misurazioni di Morton. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2007008#pbio.2007008.s001.
- STRONG, The New Era,
- TUVESON, Redeemer Nation, 142.
- Thomas BABINGTON MACAULAY, History of England from the Accession of James II, vol. I, Philadelphia, Porter and Coates, 1848, citato in TUVESON, Redeemer Nation, 144. [N. d. t.: cfr. cap. 5].
- TUVESON, Redeemer Nation, 144. Tuveson riassume anche The Rise of the Dutch Republic di John Lothorp Motley, che mette a confronto i popoli germanici con quelli celtici, i primi avendo come caratteristica la «sovranità popolare».
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 19.
- Ibid., 37.
- Ibid., 44-45.
- Ralph Waldo EMERSON, English Traits, London, G. Routledge & Co., 1857: 27.
- Ibid., 28.
- Ibid., 25.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 44.
- Si veda più avanti la sezione dal titolo Il periodo della difesa etnica: 1880-1965.
- Ibid., 59.
- Ibid., 65.
- Ibid.
- Eric P. KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, Cambridge, MA, Harvard 2004.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 88-89.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 153.
- Si veda MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 7.
- Citato in KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 144.
- Questo si basa sulla mia esperienza all’università del Wisconsin-Madison negli anni 1960. La mia attrazione nei confronti della sinistra, in quel periodo, era rivolta soprattutto alla sua versione hippie. Gli studenti ebrei, che nella controcultura di sinistra ebbero un ruolo centrale, tendevano maggiormente al radicalismo politico. Si veda MACDONALD, Memories of Madison, VDARE.com, 18 marzo 2009; https://vdare.com/articles/memories-of-madison-my-life-in-the-new-left.
- MACDONALD, The Culture of Critique, passim.
- Citato in KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, corsivo nostro.
- Citato in Ibid., 90.
- Ibid., 47.
- Ibid., 47.
- Ibid., 49 [137] Ibid.
- Robert TOMBS, The English and Their History, 245; citazione nel testo da Oliver Cromwell.
- Citato in KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 124.
- Ibid., 130.
- Ibid., 105.
- Ibid., 137.
- Ibid., 144.
- Ibid., 52.
- MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 2.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 92.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- MACDONALD, Separation and Its Discontents, cap. 7.
- $ 10,000 Fund Presented to Dr. Felix Adler, “The New York Times”, 2 maggio 1901. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1901/05/05/101072405.pdf.
- MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 3.
- House Reports 350 (1924), 16.
- Israel Zangwill, citato in Joseph LEFTOVICH, Israel Zangwill, London, James Clark % Co. Ltd, 1957:
161.
- Kevin MACDONALD, A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy, Bloomington, IN, iUniverse, 2002 (ed. orig. Westport, CT, Praeger, 1994) cap. 3 e 4.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 96.
- Ibid., 97.
- Ibid., 97-98.
- David HACKETT FISCHER, Albion’s Seed: Four British Folkways in America, New York, Oxford, UK, University Press, 1989; cfr. cap. 7.
- MACDONALD, American Transcendentalism.
- Thomas P. SLAUGHTER, The Beautiful Soul of John Woolman, Apostle of Abolition, New York, Hill & Wang, 2008.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 101.
- Kallen è esaminato in Kevin MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 7: «Fornendo un esempio personale di come il pluralismo culturale sia un utile strumento degli interessi di gruppo ebraici ai fini della conservazione del loro separatismo culturale, Kallen combinò la propria ideologia del pluralismo culturale con una profonda immersione nella storia e nella letteratura ebraiche, con l’impegno a favore del sionismo e con l’attività politica a sostegno degli ebrei dell’Europa orientale (Sachar, 1992; Frommer, 1978). Kallen (1915, 1924) sviluppò un idea “policentrica” delle relazioni etniche americane. Egli definì l’etnicità come derivante dalla personale eredità biologica di ciascuno, intendendo di conseguenza che gli ebrei dovessero essere in grado di rimanere un gruppo geneticamente e culturalmente coeso, pur partecipando alle istituzioni democratiche americane. Questa concezione in base alla quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto essere organizzati come un insieme di gruppi etnico-culturali separati si accompagnava a un’ideologia secondo cui le relazioni tra i gruppi sarebbero state collaborative e benevole: “Kallen sollevava il suo sguardo al disopra del conflitto che vorticava intorno a lui verso un regno ideale in cui coesistono la diversità e l’armonia” (Higham, 1984: 209)». Morris FROMMER, The American Jewish Congress: A History, 1914-1950, 2 voll.,
Dissertazione di Ph. D., Ohio State University, 1978.; John HIGHAM, Send These to Me: Immigrants in
Urban Americ, ed. riv., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1984; Horace M. KALLEN, Culture and Democracy in the United States, NewYork, Arno Press, 1924; Howard M. SACHAR, A History of Jews in America, New York, Alfred A. Knopf, 1992: 425 ss.
- Ibid., 102.
- Randolph BOURNE, Transnational America, luglio 1916, http://www.theatlantic.com/issues/16jul/bourne.htm.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 158.
- Ibid., 156.
- Kevin MACDONALD, prefazione alla prima edizione in brossura di The Culture of Critique, Bloomington, IN, AuthorHouse, 2002; liii; https://www.researchgate.net/publication/329029251.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 26.
- Ibid., 68-69.
- Ibid., 71.
- MACDONALD, The Culture of Critique, 259-261.
- W. COHEN, Not Free to Desist: The American Jewish Committee, 1906-1966, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1072: 41.
- Ibid., 49.
- A. ROSS, The Old World and the New: The Significance of Past and Present Immigration to the American People, New York, The Century Company, 1914: 144-145.
- Roger DANIELS, Not Like Us: Immigrants and Minorities in America, 1890-1924, Chicago, Ivan R.
Dee, 1997.
- KAUFMANN, The Rise and Fall of Anglo-America, 81.
- Herbert S. LEWIS, The Passion of Franz Boas, “American Anthropologist”, 103, n. 2, giugno 2001:
447-467, 453.
- MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 2.
- MACDONALD, Separation and Its Discontents, cap. 5.
- Kevin MACDONALD, Enemies of My Enemy: recensione dell’opera The “Jewish Threat”: Anti-Semitic Politics of te U.S. Army, di Joseph W. Bendersky, “The Occidental Quarterly”, 1, n. 2, inverno 2001: 63-77, 63.
- Neil BALDWIN, Henry Ford and the Jews: The Mass Production of Hate, New York, Public Affairs, 2001.
- Citato in Ibid., 59.
- David Starr JORDAN, Unseen Empire: A Study of the Plight of Nations that Do Not Pay Their Debts, Boston, American Unitarian Association, 1912: 19-20.
- George W. STOCKING, Race, Evolution and Culture: Essays in the History of Anthropology, New York, Free Press, 1968: 286.
- Gelya FRANK, Jews, Multiculturalism and Boasian Anthropology, “American Anthropologist”, 99, 1997: 731-745.
- Kevin MACDONALD, Henry Ford and the Jewish Question, “The Occidental Quarterly”, 2, n. 4, inverno 2002-2003: 53-77; http://www.kevinmacdonald.net/HenryFord-2.htm [188] Ernest LIEBOLD, Billy CAMERON, The International Jew, 12 giugno 1920.
- Ibid., 19 giugno 1920.
- Joseph BENDERSKY, The “Jewish Threat”: Anti-Semitic Politics of the U.S. Army, New York, Basic Books, 2000: 244.
- Kevin MACDONALD, prefazione alla prima edizione in brossura di The Culture of Critique.
- BENDERSKY, The “Jewish Threat”, 245.
- Ibid., 250.
- Ibid., 252-253.
- Ibid., 253.
- Ibid., 250.
- Ibid., 280. [198] Ibid., 262.
- Carl DEGLER, In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social
Thought, New York, Oxford University Press, 1991; FRANK, Jews, Multiculturalism and Boasian
Anthropology; LEWIS, The Passion of Franz Boas; MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 2; STOCKING, Race, Evolution and Culture; George STOCKING, The Ethnographical Sensibility of the 1920s and the Dualism of the Anthropological Tradition, “History of Anthropology”, 6, 1989: 208-276.
- HIGHAM, Send These to Me, 58-59.
- Si veda MACDONALD, The Culture of Critique, cap. 6 per una sintesi.
- Kevin MACDONALD, Effortful Control, Explicit Processing and the Regulation of Human Evolved Predispositions, “Psychological Review”, 115, n. 4, 2008: 1012-1031.
- Ibid.